Já estamos todos de saco cheio de ouvir que a arte é feita
para incomodar, para tirar-nos de nossas zonas de conforto e fazer-nos olhar
para a realidade de outra forma. É um clichê como muitos outros que formam o
senso comum, mas também o vocabulário pretensamente crítico da arte. O problema
dos clichês é que eles, com não pouca frequência, costumam ser verdadeiros e,
mais do que denunciar a suposta invalidade do que dizem, revelam a sedimentação
formal de um pressentimento ou uma intuição.
Afinal o que sentir senão incômodo quando lemos coisas como
Era briluz. As lesmolisas touvas
Roldavam e relviam nos gramilvos.[?]
O que fazer diante disso? Como reagir a esse amontoado
insólito de palavras? Bom, se você for uma pessoa com pouco ou nenhum interesse
por poesia, de duas uma. Pode simplesmente ignorar e tratar como mais uma
baboseira pretensiosa daquele pessoal metido a besta que são os poetas. Outra
reação possível é encarar a coisa como desafio, subir no ringue com o poema e
exigir-lhe, a socos e pontapés, a combinação do cofre que vai revelar todos os
seus segredos. No primeiro caso, você segue sua vida normalmente com a certeza
de que, no dia seguinte, quando for pela manhã à padaria que você conhece,
deparar-se com a atendente que você já conhece e pedir os pães cujo gosto você
sabe que já conhece, ela, a atendente, certamente não perguntará de volta
“gostaria de levar algumas lesmolisas touvas para acompanhar?” Assim, a
completa falta de utilidade prática da literatura justifica a indiferença com
que muitas vezes nos sentimos à vontade para tratá-la.
No segundo caso, a coisa muda de figura, mas nem tanto. Você
lê, relê. Mais uma vez, agora em voz alta, interroga o poema, demanda que ele
revele o mandante desse atentado tão torpe ao sentido, descobre que saber a
identidade do mandante não resolve muita coisa, e afinal vai à padaria comprar
pães com o vago sentimento de que poeta é gente metida a besta mesmo.
Mas num caso como no outro, sente-se o ataque. O incômodo
verdadeiramente acontece. O fato de essas palavras existirem, organizadas nessa
determinada ordem, não deixa de ser um ato de violência, de ruptura da
normalidade do dia a dia. A arte e, nesse caso específico, a literatura
realmente chacoalham nossas percepções e nos deslocam a outros lugares, mais ou
menos afastados das práticas comunicativas do cotidiano. O clichê vence mais
uma vez.
Mas eis que, premido pela maré cada vez mais inescapável dos
algoritmos, deparei-me recentemente com o termo
healing fiction ou
“ficção de cura”. A expressão vem para designar uma tendência não tão nova no
mercado editorial entre os
best-sellers e caracteriza livros cujos
objetivos são completamente distantes de qualquer tentativa de incômodo. Em uma
das matérias sobre o tema, Heloísa Noronha define o gênero como “livros com
histórias leves e pessoas simples com dilemas e percalços semelhantes aos da
vida real. Em geral, os enredos se passam em bibliotecas simpáticas, livrarias
fofas ou cafés e lojinhas agradáveis. A atmosfera é acolhedora e, ao fim de
suas páginas, a sensação que paira no ar é bem-estar, conforto e até mesmo
gratidão” (cf. Noronha, 2024).
Não é de hoje que a indústria cultural produz aos montes
produtos feitos sob medida para o consumo rápido e irrefletido, voltados à
injeção daquela dose de escapismo que aparentemente se tornou tão necessária de
uns tempos para cá. Já existe até um discurso “crítico” pronto — que de crítico
não tem nada — voltado à justificação intelectual desse tipo de produto:
precisamos ajustar nossas expectativas à mediocridade e, se o filme, livro ou
série da vez não agradou, a culpa é de quem foi ao cinema ou à livraria
esperando esbarrar em Fellini ou Tolstói.
Mas o termo me chamou atenção por dar nome a essa tendência
de livros com capas com ilustrações coloridas de livrarias, cafeterias,
bibliotecas etc. e com títulos que remetem a esses estabelecimentos —
A
incrível lavanderia dos corações,
Biblioteca da meia-noite,
Bem-vindos
à livraria Hyunam-Dong,
Meus dias na Livraria Morisaki etc. —,
tendência essa que vinha observando de maneira difusa, sempre figurando nas
listas de mais vendidos. Mas acima de tudo foi a ideia de uma literatura que
promove algum tipo de cura que me fez descer a toca do coelho. Afinal, a
possibilidade de alcançar uma melhoria pessoal por meio da literatura não só
habilita uma função prática direta da arte, como também vai totalmente de
encontro à ideia da arte como incômodo, uma vez que são “histórias que trazem
diversas reflexões e o famoso ‘quentinho no coração’”, como se explica
no site de uma das principais editoras brasileiras nesse nicho.
O principal atrativo para o público parece ser, portanto, a
possibilidade de chegar de um dia cansativo de trabalho e embarcar em uma
leitura que trará acolhimento, reflexões positivas e a oportunidade de fugir,
seja da rotina maçante, seja de sentimentos desagradáveis. E isso tudo, o que é
essencial, sem a necessidade de desgaste mental, apenas deite e relaxe, que
diremos a você o que sentir e como agir em relação aos seus problemas.
Resumidamente, a principal característica desse tipo de obra
é o relato das experiências vividas nesses lugares (pequenas livrarias,
cafeterias, lavanderias etc.) aonde os protagonistas vão para escapar de
problemas emocionais e/ou econômicos, e onde passam por algum tipo de
transformação e/ ou experiência mágica que os ensinam a enxergar a vida de uma
maneira diferente.
Esses espaços ditos de fuga e escape do caos capitalista
muitas vezes nada mais são que topografias consagradas de realização do capital
em seu movimento incessante, apenas aparentemente alheios ao mundo de que
querem fugir: livrarias, lojas de conveniência, cafeterias etc. O fato de os
principais
best-sellers desse gênero serem oriundos de países como Japão
e Coreia do Sul não é algo sem seus significados e traz consigo a devida dose
de orientalismo que o interesse por países asiáticos costuma esconder não tão
bem assim.
Os produtos culturais do “Oriente”, aos olhares dos ditos
ocidentais, trazem consigo a marca do exotismo e da natureza intocada, com a
diferença de que, no caso das
healing fictions, produtos essencialmente
urbanos que são, não são os recônditos das florestas intocadas o que se busca,
e sim aqueles microcosmos de suposta calmaria no próprio núcleo da vida
acelerada das megalópoles, os lugares onde supostamente a marcha implacável do
sistema ainda permite algum grau de humanização. Se o
fugere urbem
clássico realizava a fuga total dos espaços urbanos — ainda que no plano ideal,
é claro —, esse novo topos do imaginário contemporâneo, fruto que é de um tempo
sem utopias, tem que se contentar com a fuga da cidade dentro da própria
cidade. Não a desagregação total da ordem, mas a possibilidade de fruição em
seus interstícios, ou seja, o tempo livre.
Desse modo, como os fundamentos sociais e econômicos do
sistema permanecem intocados, é preciso recorrer à mistificação e à idealização
da sociedade, em uma espécie de cosmética do capitalismo. A “utopia” da
literatura de cura é irrevogavelmente atrelada ao universo prosaico das
relações de troca correntes e se traduz na preferência espacial pelo pequeno
estabelecimento comercial supostamente à margem das pressões econômicas, onde o
que se comercializa é o amor, a empatia e o acolhimento em pacotes perfeitamente
embalados nos lugares-comuns da pieguice. Os exemplares do gênero refletem nas
jornadas de seus protagonistas o efeito que os livros se propõem a alcançar
como produto no mundo real: a aquisição da cura enlatada, o equivalente
literário a uma insossa pílula de Rivotril.
A preferência espacial das ficções de cura transforma os
lugares onde invariavelmente se realiza a mais-valia (ainda que em escala
reduzida) e, portanto, a exploração, em refúgios onde é possível obter
autorrealização e transformação pessoal. O mecanismo de mistificação ainda é
bem similar ao da nostalgia arcádica, mas com a devida depuração das formas
mais complexas: a “Idade de Ouro” que os poetas neoclássicos cantavam, com a
respectiva harmonia paradisíaca da vida pastoril, escondia a brutalidade de organizações
de tipo arcaico ou feudal; agora, na impossibilidade dos paraísos intocados,
oculta-se a dinâmica cruel por trás das sociabilidades banais por meio de
camuflagens bobas. Algo como “até poderíamos ser um negócio qualquer, mas
vendemos abraços e temos gatinhos”.
Em sua pretensão de representar uma fuga da realidade
opressora do cotidiano, a
healing fiction, com seus
best-sellers altamente
rentáveis, nada mais é do que uma das condições culturais necessárias à
manutenção das dinâmicas peculiares de opressão, como já é há bastante tempo o
gênero da autoajuda. Por meio de seus enredos fáceis e da panfletagem de
virtudes que demandam pouca energia intelectual, livros desse gênero cumprem
com excelência as exigências de reprodução social mínima de todos nós
trabalhadores. “O prazer acaba por se congelar no aborrecimento, porquanto,
para continuar a ser um prazer, não deve mais exigir esforço e, por isso, tem
de se mover rigorosamente nos trilhos gastos das associações habituais”. O
escapismo, a diversão, torna-se, assim, “o prolongamento do trabalho sob o
capitalismo tardio. Ela [a diversão] é procurada por quem quer escapar ao
processo de trabalho mecanizado, para se pôr de novo em condições de
enfrentá-lo” (Adorno; Horkheimer, 1985, p. 128).
Como Adorno lembrava, em um mundo onde a força de trabalho é
coisificada, o tempo livre torna-se um mero apêndice do trabalho, um período
dedicado à renovação de forças para encarar a próxima jornada diária. Como são
essencialmente separados do trabalho, é preciso que os prazeres do tempo livre
em nada remetam à rotina daquele, daí a exigência de que “desliguemos” os
cérebros para assistir a um filme ou ler um livro. O que acontece hoje em dia é
que, em vez de caminharmos em direção à não reificação do trabalho,
reabilitando-o também como fonte de prazer, o aspecto excessivamente
racionalizado e controlado das relações de trabalho se imiscui naquilo que nos
sobrou de tempo livre, empregando sua dinâmica de produtividade a tudo que
fazemos. “Quantos livros consigo ler em um dia?[!]” “Quantos episódios daquela
série consigo maratonar se assistir na velocidade 2x?” são exemplos de
questionamentos que nos revelam a conversão do prazer em metas a serem batidas.
A
healing fiction parece responder a esse estado de
coisas, mas o faz reivindicando mais uma vez aquela divisão rígida entre
trabalho e tempo livre, que termina por ratificar o seu contrário, isto é,
favorece a instalação da lógica da produtividade no âmbito do lazer. A literatura
passa a ser algo a ser consumido quase por osmose, por meio das chamadas
“leituras dinâmicas” altamente eficientes, uma atividade tão passiva que é
possível realizá-la até mesmo enquanto se assiste a um filme ou se ouve um
podcast.
No lugar de uma literatura capaz de reconfigurar nossas
categorias de sociabilidade a partir de perspectivas radicalmente disruptivas,
capaz de reabilitar a atividade intelectual apartada da mecanicidade do
trabalho reificado como fonte de prazer, é-nos vendida uma literatura
farmacológica, “terapêutica”, consumível a um custo energético zero, pronta a
nos repor “curados” às prateleiras do mercado de trabalho, onde, lá sim, nos
entregamos 100%.
Sim, dizer que a arte é feita para incomodar é, certamente,
um pensamento batido e que não explica satisfatoriamente o fenômeno artístico
em suas múltiplas manifestações. Entretanto, no lugar de descartar certos
clichês ao primeiro sinal de alarme, talvez façamos melhor em escutá-los com
discernimento, a fim de não cair em armadilhas piores.
ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento: fragmentos filosóficos. Tradução de Guido Antônio de Almeida. Rio de Janeiro: Zahar, 1985.


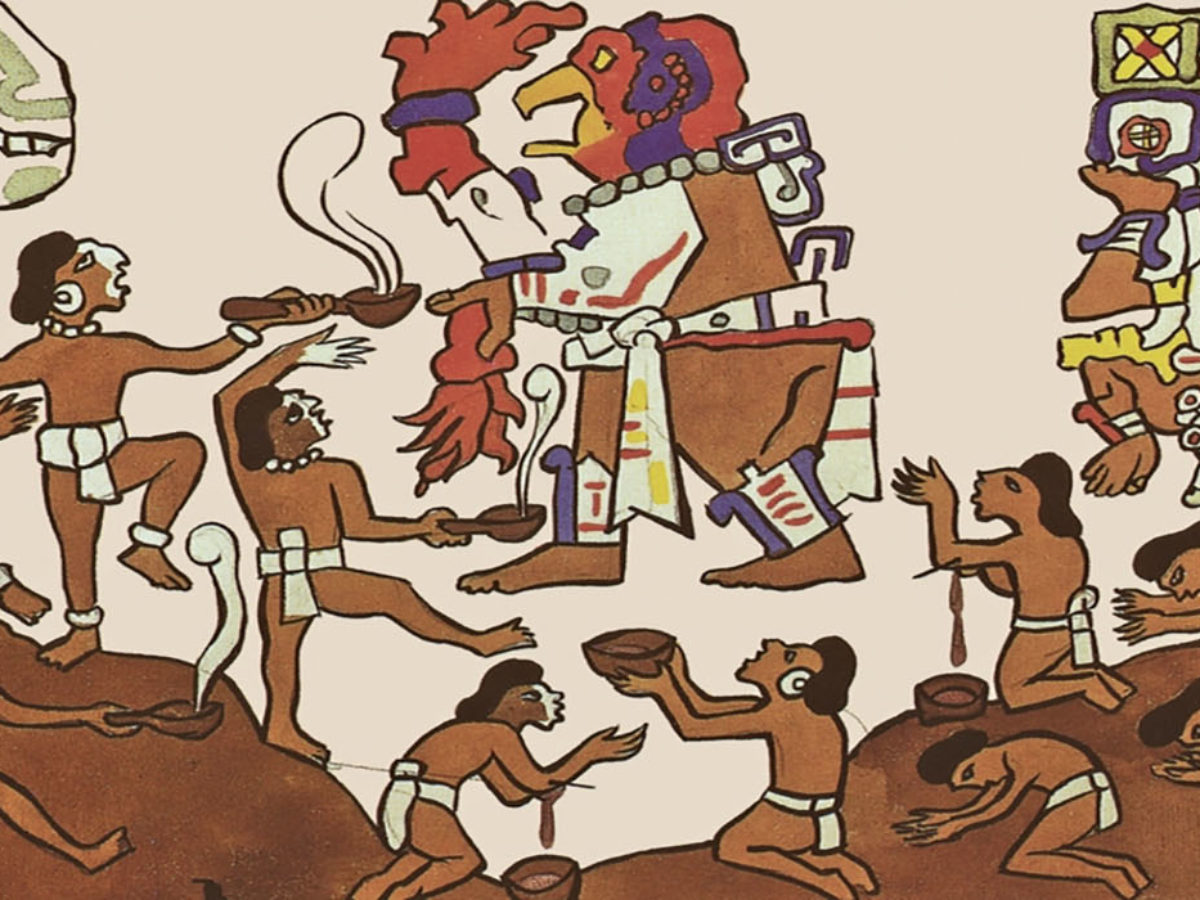

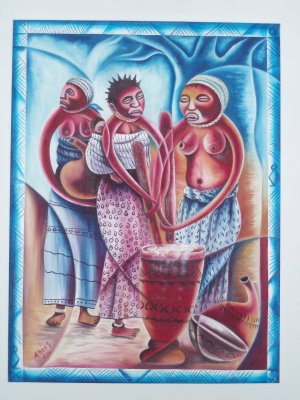


Comentários