Por Alfredo Monte “Eu quisera que meus livros fossem lidos como eu li os romances de que gosto. Os romances que me fascinaram, mais do que entrar pela inteligência, através do puro intelecto, da pura razão, me enfeitiçaram literalmente, quer dizer, se converteram em histórias que de certa forma destruíram toda capacidade crítica em mim. E me faziam perguntar: O que vai acontecer? O que vai acontecer? Este é o tipo de romance que eu gosto de ler e este é o tipo de romance que eu gostaria de escrever. Então para mim é muito importante que todo elemento intelectual, que é inevitável que esteja presente em um romance, de alguma forma esteja dissolvido fundamentalmente em ações, em episódios que deveriam seduzir o leitor não por suas ideias, mas por sua cor, por seu sentimento, suas emoções, suas paixões, por sua novidade, por seu caráter insólito, pelo suspense e o mistério que possa emanar deles. Para mim, a técnica do romance é fundamentalmente conseguir isso, conseguir ...






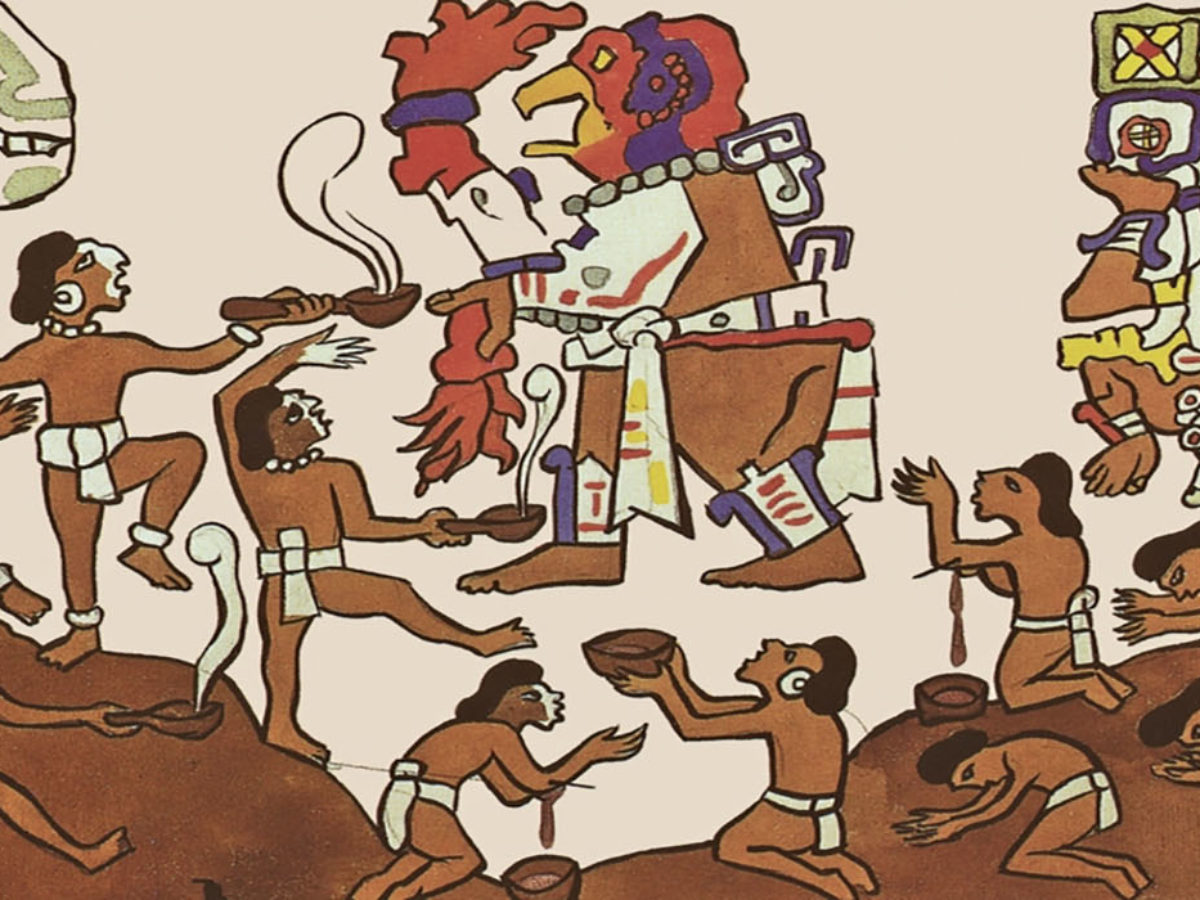
Comentários