Larraín com sua Maria Callas, um ventríloquo a mais do streaming
Por Alonso Díaz de la Vega

Parece que cada novo filme do
diretor chileno Pablo Larraín é uma tentativa de negar a si mesmo. Se
compararmos a montagem dos seus filmes de há uma década, mais ou menos — Neruda
e Jackie (2016), Ema (2019) —, com a dos mais recentes —
concretamente O conde (2023) e Maria Callas (2024) —, poderemos
assistir à dolorosa extinção de uma individualidade em ascensão, formada por
imagens incoerentes como a consciência, e por uma narrativa difusa que dava
mais interesse à sensação do que à história. Em seu lugar surge um estilo cada
vez mais claro — para não dizer óbvio —, melodramático e mecânico. Larraín não
foi um dos grandes cineastas contemporâneos em seu auge, mas naqueles filmes
ele demonstrou o potencial de se refinar até se tornar um, apesar de
excentricidades como seu olhar ansioso em um filme de libertação feminina (Ema)
ou a expressão frequentemente grotesca de abuso infantil dentro da igreja católica
em O clube (2015). Aquele Larraín mais livre era um artista em busca de
sua própria voz. Hoje, ele dá a impressão de ser um funcionário a serviço dos
interesses da Netflix, como sugerem seus dois últimos filmes, distribuídos pela
empresa de streaming.
O conde e Maria Callas
sustentam a obsessão do diretor por ícones do século XX, que anteriormente
incluíram Pablo Neruda, Jacqueline Kennedy e Lady Di, mas há uma simplicidade
nos retratos mais recentes que sugere o envolvimento da Netflix, envolvida
desde a pré-produção de O conde. Maria Callas foi comprada no
Festival de Cinema de Veneza para distribuição nos Estados Unidos, embora
pareça que o filme tenha sido feito por demanda pela empresa, um dos membros da
qual disse há algum tempo que não produziriam mais “projetos de vaidade” como O
irlandês (2019), de Martin Scorsese, porque não geravam os números de
público desejados.
O icônico, em O conde e Maria
Callas, expande-se, ao contrário da exploração mais intimista de seus
antecessores. Spencer (2021) ainda continha uma tensão interessante
causada por uma mulher associada à moda (Kristen Stewart) interpretando outra
(Lady Di), posando como ela, mas no final prevalecia a imagem da britânica
levando os filhos ao McDonald's, numa tentativa de resgatar sua normalidade
para não ser vítima de uma fábula de princesa. O conde, que representa o
ditador Augusto Pinochet como um vampiro, e Maria Callas, cuja ideia da
diva da ópera é reduzida à sua personalidade pública, concordam com a frase de
Friedrich Nietzsche: “Há mais ídolos do que realidades no mundo”. Se os
primeiros filmes de Larraín sobre protagonistas históricos foram uma tentativa
de encontrar essa realidade, seus mais recentes cedem ao imaginário popular,
faminto por majestade.
Maria Callas começa com a
morte da diva, o que dá origem a uma montagem clara quanto ao propósito de
Larraín: Angelina Jolie a interpreta em um primeiro plano em preto e branco e
começa a cantar. No centro da imagem, se cruzam recriações de filmagens de
Callas em aeroportos, cercada por fotógrafos; também a vemos no palco colhendo
flores, ou na companhia de seu amante, Aristóteles Onassis (Haluk Bilginer). O
efeito é uma revelação verdadeiramente impensável: Callas era um ícone. Fritz
Lang disse corretamente que os filmes estão contidos em sua primeira cena, e
nada muda nas duas horas seguintes de Maria Callas. Larraín parece
controlado pelo roteiro de Steven Knight, que também é o produtor executivo do
filme.
O diálogo de Knight faz muito para
envelhecer o que vemos e insistir na iconolatria. Os personagens não conversam,
mas sim — da primeira à última cena — se confrontam em duelos de engenhosidade
verbal, como naquele clássico de Stanley Donen, Charada (1963), mas o
que foi então um filme de sua época, artificial como boa parte do cinema
clássico e new wave, aqui parece fora de contexto. Larraín poderia
brincar com esse aspecto, e de fato o fez em filmes anteriores, mas sua direção
é tão plana em Maria Callas que tudo o que se percebe é uma intenção de
traduzir o texto de Knight em imagens. Lembro-me bem daquelas sequências de Neruda
em que o poeta chileno começava uma frase em um espaço e terminava em outro. O
filme era um estranho sonho de busca e liberdade que poderia muito bem
descrever o próprio diretor agora, entre as pressões econômicas de entregar uma
produção de sucesso e o desejo de manter sua personalidade. Ocasionalmente, há
momentos como os de Neruda, como uma sequência em que a protagonista
canta e é vista em dois lugares simultaneamente, mas, em geral, prevalecem as
conversas repletas de frases espirituosas.
“Meu corpo”, explica Maria Callas
a um entrevistador, “sabia que eu era um tigre”, referindo-se à sua
incapacidade de engravidar. “Jackie era sua esposa, mas você era sua vida”, lhe
contam sobre seu relacionamento com Onassis. Ambas as frases capturam não
apenas o tom intensamente melodramático do filme, mas também alguns dos temas
que insistem na grandeza sobre-humana da cantora.
A atuação de Jolie tem momentos
interessantes em que o colapso interno transborda para o exterior,
principalmente diante da impotência de voltar a cantar (o filme narra a semana
anterior à morte de Maria Callas e especula que em seus últimos dias ela se
dedicou a recuperar a voz após uma década sem fazer uma apresentação pública); no
entanto, apesar dos esforços de Jolie para dar alguma humanidade à sua
personagem, o texto exige — e a sujeita a — sempre se comportar como uma imagem
robusta e invulnerável. Pouco antes de morrer, numa cena sentimental, o filme
mostra Callas em seu apartamento; seus criados, que foram até a loja, podem
ouvi-la junto com o resto das pessoas atônitas na rua, ouvindo o canto de um
cisne moribundo. Se fosse exagero, teria subido ao teto, como os Beatles.
As distorções chegam a tal ponto
que Knight e Larraín inventam um efeito colateral da medicação de Maria Callas
em seus últimos dias: uma série de alucinações que a obrigam a perguntar aos
personagens ao seu redor se um entrevistador de televisão que a acompanha por
toda parte (Kodi Smit-McPhee) é real. Gostaria de pensar que Larraín está
tentando recriar o perseguidor inventado por Neruda, interpretado por Gael
García no filme sobre o poeta, mas o efeito é mais semelhante ao do recrutador
do Departamento de Defesa dos Estados Unidos em Uma mente brilhante (2001),
de Ron Howard. Ao substituir o onírico pela banal — e até culturalmente
ultrapassada — narrativa da loucura, Larraín retorna ao estilo dos vencedores
do Oscar de mais de 20 anos atrás.
A obsessão pela sustentação do
mito assume um ângulo politicamente reacionário se considerarmos que a ideia do
sobre-humano, das grandes mulheres e homens que movem a história, não só
representa uma mentalidade ultrapassada pela historiografia, mas também
coincide com a admiração contemporânea por certas figuras empresariais. No
mesmo sentido, chama a atenção que Knight e Larraín optem por mostrar a Maria
Callas do passado cercada por homens poderosos como Onassis e John F. Kennedy
(Caspar Phillipson), mas ignore completamente sua proximidade com um poeta
revolucionário como Pier Paolo Pasolini, que colaborou com ela em sua versão
cinematográfica de Medeia (1969) e se apaixonou por ela, embora sem a
possibilidade de ser mais do que seu amigo. Também é desconcertante que as
menções a Jacqueline Kennedy, esposa de Onassis e, portanto, rival de Maria
Callas, reduzam a ex-primeira-dama estadunidense a uma figura caprichosa e
odiosa, quando Larraín tentou ilustrar o oposto (o sofrimento de uma mulher que
estava proibida de chorar porque personificava o luto de uma nação) em Jackie.
Ao contradizer simbolicamente sua
própria filmografia, a autorrejeição de Larraín se concretiza. Nada resta
daquele cineasta, exceto um contador de filmes para televisão pouco acima da
média, mas não um cineasta: um ventríloquo de prestígio para a Netflix.
* Este
texto é a tradução livre de “Larraín con su Maria Callas, un autómata más
del streaming”, publicado aqui, em Gato pardo.
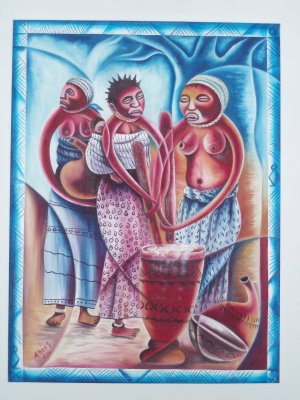





Comentários