Por Pedro Fernandes
Liberdade, sim, mas ela tem que
ser carimbada. Liberdade de ir e vir em todo mundo, sim, mas apenas com a
autorização do guarda noturno.
— Em O navio da morte, de
B. Traven

A história das fronteiras é a
história da longa disputa que estabelecemos desde quando potencializamos a noção
de propriedade. No início do século passado o aparelho burocrático que sustenta
o que hoje conhecemos como Estado estava em pleno funcionamento com o uso de
mecanismos de controle capazes de determinar desde a ideia de cidadão aos seus
trânsitos dentro e fora das fronteiras do seu lugar nacional. Todo esse
aparelhamento serviu de interesse à literatura e a obra de Franz Kafka é
reconhecida como sua viga-mestra.
Também outros escritores se
mantiveram seduzidos pelo trabalho de explorar o absurdismo de situações propiciadas
apenas pela usabilidade da burocracia que, sim, é necessária ao ordenamento,
mas se tornou aparato de continuar servindo ao tipo social dominante; uma vez
estabelecida as leis do capital, sabemos, o imperativo do burocratismo pode ser
facilmente corrompido em favor de quem a condição financeira chega primeiro, antes
da devida necessidade. De maneira que uma mesma lei pode servir a dois
indivíduos de maneira diversa, salvando um e condenando outro.
O mundo depois de B. Traven, por
exemplo, se expandiu vertiginosamente com a globalização, mas as leis que regem
as fronteiras de cada Estado continuaram a garantir que o acesso a determinado
país varia conforme o valor financeiro do cidadão; o trabalhador comum, por
exemplo, deve cumprir sua condena de miséria em seu próprio país, enquanto
aqueles que possuem determinado poder aquisitivo até podem transitar pelo país
promissor e, a depender do caso, nele se estabelecer e constituir uma vida de
progresso.
Uma parte dos agravantes passados
no século vigente foi prenunciada nessa literatura interessada em trazer relevo
para as circunstâncias situadas na zona das imprevisibilidades legais ou a ela
condenada pelo excesso de observância ética ou pela falta do fator financeiro que
intervenha em seu favor; uma literatura que se volta não para a vida marginal,
por vezes até celebrativa dessa condição em favor do autoritarismo do regime de
Estado, mas para os dispositivos constitutivos dessa condição e como estes se
estabelecem e regem a vida dos indivíduos.
O navio da morte, um dos
livros da breve mas consistente obra literária construída por B. Traven, é um
exemplo disso. A história de errância de um marinheiro desgarrado da condição
de cidadão, usual no contexto referido pelo romance — os anos de imediata criação
do passaporte e das leis de trânsito entre países —, repete-se diariamente em
todas as partes do mundo; e a contínua reafirmação do acontecido, em menor ou
maior grau, favorece a essa história um papel de arquétipo do homem encerrado no
labirinto da burocracia.
No caso em evidência, estamos
situados no instante imediatamente posterior a quando o aparelho burocrático falha
pela revelia dos indivíduos, o instante quando, sem alternativas, passamos a
transitar pela sombra do sistema, aceitando taciturnamente a sentença imposta
de existir não-existindo. B. Traven nota a impossibilidade de regressarmos ao
ponto original da liberdade, mesmo que o seu protagonista chegue à conclusão de
que sua pátria é: “Onde ninguém me incomoda, não quer saber quem sou, o que
faço, de onde venho”. Mesmo no submundo a que é condenado, os efeitos da
máquina estatal aparecem visíveis; seus conterrâneos que não se identificam ou
que forjam uma identidade são, muitas vezes, reconhecidos pela nacionalidade
autoatribuída.
O romance narrado em primeira
pessoa por um dos tipos benjaminianos — o homem de larga experiência cultivada
como viajante — encontra-se estruturado em três livros que não segmentam o
curso dos 48 fragmentos que fazem as vezes de capítulos. No primeiro, este
marinheiro examina seu périplo na busca pela regularização de sua identidade e,
nesse caso, não é apenas a nacionalidade, porque se trata de um indivíduo
criado à solta, sem os pais, apenas condicionado à sobrevivência, mesmo que, quando
se encontra à serviço do S. S. Tuscaloosa, não deixe de alentar certo de desejo
de alguma vez regressar a Nova Orleans e estabelecer-se numa vida pacata.
Ao ser abandonado pelo navio
depois de uma saída noturna consentida pelo capitão, o marinheiro passa a ser
continuamente interpelado pelo serviço de segurança devido sua condição de
apátrida, afinal o único documento capaz de provar algo ao seu respeito para o
Estado escapou na fuga do Tuscaloosa. De
cônsul em cônsul, de prisão em prisão, de ajuda em ajuda, o errante escapa até
ser cooptado para o Yorikke, um dos muitos navios que vagueiam sem destino
enquanto esperam pelo fim iminente. Este é círculo das agruras, o inferno de
Mr. Gales, e o segundo livro.
Entre o primeiro e o segundo é
notável algumas variantes que interferem no funcionamento do próprio romance. A
predominância da ação é vertida para a descrição — a degradação do navio e dos
humanos que nele habitam e trabalham, tudo interessa ao novo integrante do
Yorikke. Esse exercício retarda o andamento temporal dos acontecimentos e
contribui para acentuar o drama padecido pelo marinheiro; substitui-se certo
tom agridoce do relato de viagem que de alguma maneira se encontra nos
acontecimentos do primeiro livro pelo efeito de horror perquirido por um ponto
de vista que havia especulado outra face para a morte. Singular, nesse sentido,
é quando as sentinelas da fronteira entre França e Espanha atribuem-lhe a pena
de morte e — até a sua realização desfeita como se um embuste — passam a
tratá-lo com as honras de um figurão da guarda. Daqui à passagem para o
Yorikke, tudo se acentua. A morte é sempre uma pena lenta, terrível e dolorosa,
ainda que isso possa ser uma condição autopermitida, como percebe, devido a nossa
consciência de esperança, sendo a diferença que nos coloca inferiores aos
animais:
“Antes de eu morrer e vir me
juntar aos mortos, eu não entendia como é possível existir a escravidão, o
serviço militar, como é possível que homens física e mentalmente saudáveis se
deixassem caçar por canhões e metralhadoras sem protestar, por que as pessoas não
preferem mil vezes o suicídio a suportar a escravidão, o serviço militar, as
galés e as chicotadas. […] Nenhum homem pode descer tão baixo que não possa
afundar ainda mais; por mais pesado que seja seu futuro, ele poderia suportar
um ainda pior. Eis por que seu espírito, que supostamente o elevaria acima dos
animais, ao contrário, o rebaixa a um nível inferior a eles. Eu já conduzi
animais de carga, camelos, lhamas, burros e mulas. Já vi dezenas deles se
deitarem quando estavam apenas três quilos acima do peso, ou quando se julgavam
maltratados; eles teriam se deixado açoitar até a morte sem reclamar — isso eu
também vi — em vez de ser levantarem pra levar sua carga ou de aceitarem os
maus-tratos. […] Mas o homem? O senhor da criação? Ele adora ser escravo, ele
tem orgulho de bancar o soldado e de ser derrotado, ele adora ser chicoteado e
torturado. Por quê? Porque ele é capaz de pensar. Porque ele é capaz de pensar
em ter esperança. Porque ele espera que as coisas melhorem. Esta é a sua
maldição, nunca a sua sorte.”
O último livro regressa ao tom do
primeiro. Sua força para a ação é acentuada no desenvolvimento dos
acontecimentos resultados da pequena estadia no Empress of Madagascar, o
segundo navio da morte a que é condenado o marinheiro — desta feita,
sequestrado —, reavivando uma das afirmativas levantadas pelo companheiro de
morte no Yorikke, Stanislaw, para quem, não existe saída para a vida depois de
um homem ingressar nesse submundo de Hades, exceto se por um milagre escapar a
um naufrágio da embarcação. Se no primeiro livro predomina o absurdismo, se no
segundo o drama, aqui, é a vez do trágico. Mas, nenhum desses aspectos são plenamente
realizados sob o risco de colocar em crise o próprio funcionamento do romance porque
estão alinhavados com a linha da ironia que perpassa do começo ao fim das
aventuras de Mr. Gales.
Este marinheiro confunde-se com o seu
criador. B. Traven é, sabidamente, uma incógnita. Não se sabe sua origem, quando
nasceu, quem eram seus pais, o que fez durante a vida além de escrever, por
onde andou. Um errante situado também fora do regime burocrático do literário —
este que continua a apelar ao vivido pelos escritores para limitar e explicar
os acontecimentos desenvolvidos na ficção, como se as duas coisas fossem obrigatoriamente
correlatas, como se a literatura devesse cumprir o requisito de alineada à estrutura
dominante, como nós cumprimos em relação ao Estado.
Mas, se um século depois ainda
lemos a errância de uma incógnita fabulada por um congênere é porque, fora ou
dentro das linhas impostas pelos sistemas de separação que forjamos e
aperfeiçoamos continuamente, nos sobram três coisas: a literatura não existe
amarrada ao estatuto do autor, sendo este a tábua de salvação ou de condena da
obra; identificamo-nos com o princípio inalienável da liberdade; e, ante o
Estado que diz nos proteger, se não somos o poder dominante, somos, embora os
que sustentam o funcionamento da ordem, todos incógnitas, quando muito, um
número vigiado desde quando vimos ao mundo.
Ligações a esta post:
O navio da morte
B. Traven
Érica Gonçalves Ignacio de Castro (Trad.)
Imprimatur/ 7Letras, 2024
320p.


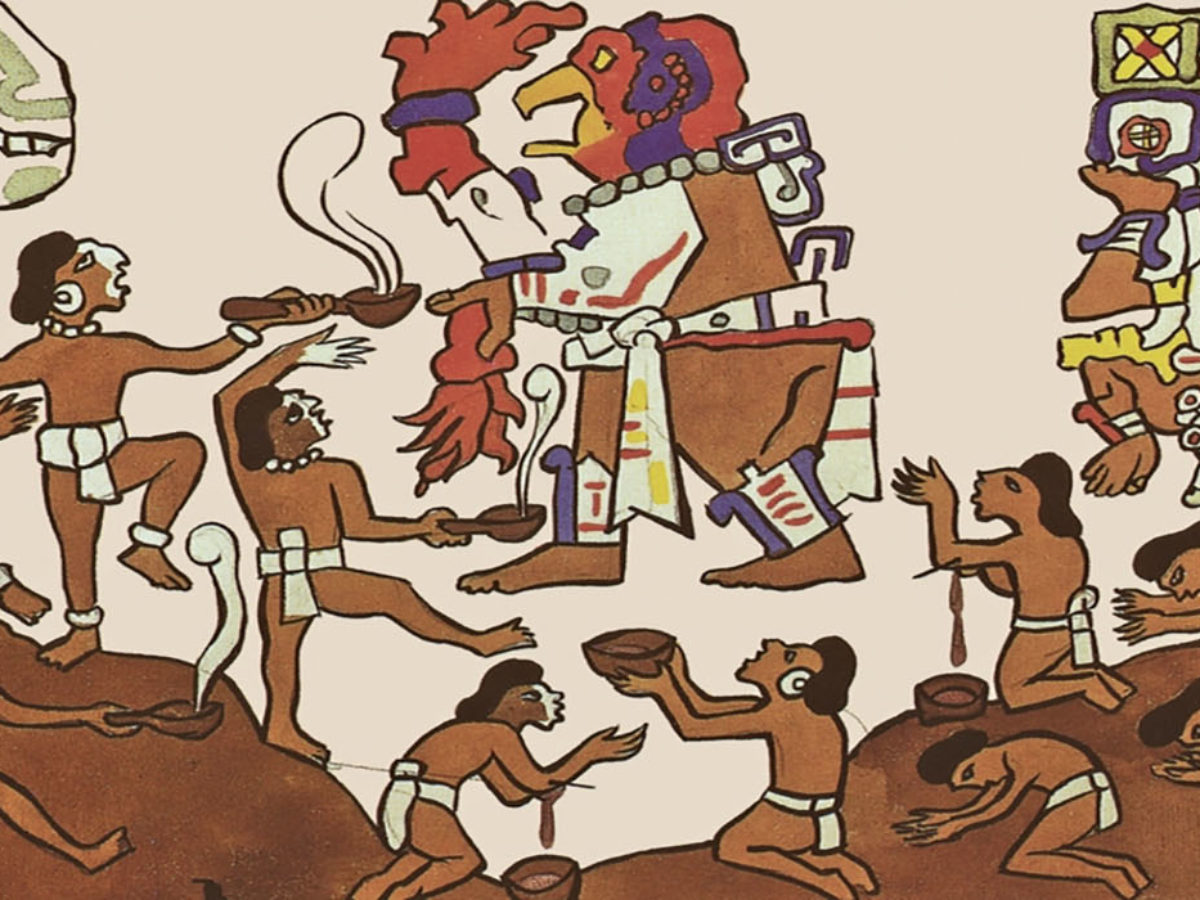



Comentários