Por Rafael Bonavina
 |
| Eleazar M. Meletínski, meados de 1950. Foto: Lidia Iakovlevna Guinzburg. |
Recentemente foi lançada uma nova
tradução da obra do importante pesquisador russo Eleazar M. Meletínski (1918–2005)
que complementa o seu material já publicado no Brasil. Meletínski foi um dos
mais importantes estudiosos da poética histórica e da relação entre literatura
e mito, seus livros continuam editados na Rússia e no mundo até hoje e são
amplamente lidos pelo público interessado. O reconhecimento da sua contribuição
para o campo fica evidente pela honrosa homenagem da Universidade Estatal Russa
de Humanidades (RGGU), que deu seu nome ao Instituto de Estudos Superiores de
Humanidades (IVGI).
No Brasil, a obra de Meletínski já
conta com uma importante tradução para o nosso idioma do livro
Os arquétipos
literários (originalmente publicado em 1994), ainda usado como bibliografia
fundamental para muitas disciplinas e cursos universitários. Apesar de ser
relativamente curto, o livro consegue criar um panorama bastante amplo da
relação entre o mito e a literatura, encontrando as raízes mitológicas de
alguns personagens típicos; por exemplo, os pícaros e malandros, cujas raízes estão,
segundo Meletínski, no trapaceiro mítico (
trickster). Além de
Os
arquétipos, alguns de seus artigos também já foram traduzidos para o
português e se encontram publicados em revistas acadêmicas, como a
Revista
RUS, em especial os que se dedicam especificamente à transformação do mito
em literatura, como o par de ensaios “Conto e mito” e “Mito e conto”.
Um dos mais significativos, e talvez o mais importante,
livro escrito por Meletínski já foi trazido para o Brasil em 1987 pela editora
Forense Universitária, com tradução de Paulo Bezerra, sob o título A poética
do mito. Nesse longo e detalhado estudo, o pesquisador soviético busca
esmiuçar algumas permanências das mitologias antigas na literatura, incluindo
aí tanto a popular quanto a erudita. Para isso, o seu autor começa fazendo uma
revisão ampla e profunda das várias abordagens acadêmicas do mito, o que
chamaríamos hoje de estudo de estado da arte. Seu olhar experiente ora faz
críticas pontuais, agudas e pertinentes, ora as elogia sem exagerar suas
qualidades. Depois disso, nas duas partes seguintes do livro, o estudioso
soviético focaliza sua atenção na literatura: primeiro o caminho de sucessivo
afastamento do mito que a literatura toma até o século XX, processo do qual
falaremos um pouco adiante; e, na seguinte, aborda as razões e consequências da
transformação operada pelo Modernismo no percurso da arte até ali.
Embora Meletínski utilize uma
linguagem bastante didática para um tema tão complexo, e a tradução mantenha
esse traço, é possível que seja imediatamente evidente o que nos leva de um
personagem como o Jabuti das narrativas indígenas até Pedro Malasartes ou
Leonardo Pataca, do romance Memórias de um sargento de milícias. De
fato, não seria totalmente correto afirmar a existência de uma linha sucessória
entre essas figuras; por outro lado, não podemos deixar de notar que há algo em
comum entre todos eles, um traço fundamental que os perpassa e, em grande
medida, define.
Voltando a Os arquétipos
literários, seu mérito é justamente o de tentar explicar essa relação
complexa entre os personagens, e sua conclusão, em linhas gerais, é que os
personagens podem não ter uma relação direta, frutos de sociedades muito
diferentes entre si, mas são tipos que representam manifestações de um mesmo
arquétipo, que é, por sua vez, a abstração de um grande modelo reproduzido em
escala menor nessas figuras. Para isso, além dos estudos literários e
folclóricos, o pesquisador também recorre à psicanálise, principalmente a baseada
em Jung, autor cuja obra Meletínski conhece em profundidade.
Ao mesmo tempo em que Os
arquétipos nos coloca diante de um sistema de pensamento que explica, em
grande medida, as semelhanças entre esses personagens, a atemporalidade dessa
perspectiva não nos permite compreender as diferenças entre eles por completo.
Um dos traços mais claros que os distingue talvez seja a magia, isso é, no grau
de poder de que os personagens dispõem. Em suma, os tricksters míticos
são capazes de lançar mágicas, transformarem-se em animais e objetos, encantar
seus rivais etc. Já as versões mais modernas do mesmo arquétipo, como Pedro
Malasartes, não possuem qualquer tipo de poder mágico, apenas sua astúcia e, às
vezes, alguma sorte.
Seria possível atribuir essa mudança
à crescente influência do realismo na literatura e, em parte, a afirmação
estaria correta, uma vez que Malasartes ou Cancão de Fogo são pintados com uma
paleta mais realista, por assim dizer, do que suas contrapartidas mitológicas.
Por essa lente, de fato, conforme nos aproximamos do realismo, a presença da
magia na literatura se torna cada vez menos central. No entanto, não é raro
encontrar histórias de astutos que se defrontam com todo tipo de demônio e
seres sobrenaturais que, por sua vez, possuem poderes mágicos; pelo contrário, o
procedimento é bastante comum e visa demonstrar que o protagonista é tão astuto
que consegue enganar o Pai da Mentira, um ser que é astuto por definição. A
presença desse motivo na literatura oral, é o que o sistema Aarne-Thompson
conta com a categoria do Diabo Logrado na sua classificação de contos
populares.

Ora, se na mesma história temos o
elemento fantástico sob a forma de um ser sobrenatural — digamos um demônio — então
os contos não poderiam ser encaixados perfeitamente na categoria do Realismo,
movimento este, diga-se de passagem, mais ligado à arte erudita que à popular. Temos,
então, uma tensão que não se resolve por meio da historiografia tradicional da
literatura e que poderia ser sintetizada na seguinte pergunta: afinal, por que
as manifestações mais antigas dos arquétipos tendem a ser mais poderosas que as
modernas? E Meletínski nos apresenta sua hipótese sob a forma do livro Do
mito à literatura (2000), escrito seis anos depois de Os arquétipos
literários.
Ao lidar com essa questão,
Meletínski começa seu estudo pelo debate da concepção de mito como a cultura em
sua forma integral, condensando tudo o que hoje vemos fragmentado em diversos
campos do saber (cosmogonia, etiologia, moralidade, ciência etc.). A partir
disso, o crítico soviético nota que quanto mais unidos estão esses vários
aspectos da cultura, quanto mais integralizada ela é, maior potência possuem as
manifestações dos arquétipos; e o contrário também se mostra verdadeiro: quanto
mais fragmentada a cultura, menos potentes são os personagens produzidos. Dessa
forma, Meletínski apreende um processo de transformação da cultura a que ele
chama de desmitologização, e a partir dele cria seu interessante sistema
crítico, que vincula a transformação das narrativas à descentralização
do mito nas sociedades que as produzem.
Se, por um lado, esse fenômeno de
fato já aparece no centro das discussões de A poética do mito; por
outro, Meletínski lança Do mito à literatura passados mais de trinta
anos desde o primeiro, tempo em que o autor deu continuidade aos seus estudos,
produzindo dezenas de ensaios sobre o assunto. Por isso, podemos considerar Do
mito à literatura como uma síntese de toda uma vida dedicada à poética
histórica, à transformação do mito em literatura. E, nesse sentido, justifica-se
a tradução desse estudo, que não rivaliza com seu irmão mais velho, mas
complementa e atualiza o material já publicado.
Nesse sentido, Do mito à
literatura permite que o leitor acompanhe uma forma mais concisa e
desenvolvida da desmitologização e sua aplicação à literatura, partindo das
narrativas mais antigas até manifestações bastante recentes, como alguns
romances do século XX. A discussão feita por Meletínski esmiuça as diversas
etapas, gêneros literários e pontos de vista desse processo, sem deixar de
levar em conta a vertente popular e a erudita. Ao longo do seu livro,
subdividido em capítulos dedicados às principais etapas desse processo, o
pesquisador indica as particularidades de cada fase e as articula com os
impactos culturais causados por mudanças infraestruturais comuns a diversas sociedades
ou mesmo eventos históricos de importância global.
Nesta síntese didática, a
perspectiva apresentada pode parecer linear, e portanto demasiado simplista, mas
não é esse o caso. A perspectiva de Meletínski evita cuidadosamente essa
tentadora armadilha, em que muitos críticos importantes se veem presos, de se marcar
um ponto final a que toda a cultura deverá chegar em algum momento, como o
realismo crítico do século XIX ou uma vanguarda contemporânea. Ao invés disso,
o crítico apresenta ao leitor uma hipótese que busca explicar o processo que,
apesar de ser compreensível a partir de um conceito central, segue um caminho incerto,
tortuoso, cheio de guinadas e reviravoltas. Nesse sentido, a discussão acerca
das Grandes Guerras é bastante emblemática, pois demonstra que, embora a arte
viesse em uma constante desmitologização de séculos, o trauma das duas Guerras
Mundiais provoca uma crise profunda no positivismo, principalmente na ideia de
um futuro necessariamente melhor para a humanidade que seria atingido por meio
dos avanços da tecnologia. Essa fissura dá origem a uma inversão no processo encontrado
por Meletínski até ali, e, ao invés de se desmitologizar, a arte do
século XX vê nascer uma fase de remitologização, de retomada das suas
raízes míticas em busca de uma saída para essa crise. Não é à toa que esse
período vê nascer grandes romances como Ulysses, de James Joyce, ou A
metamorfose, de Franz Kafka, nos quais Meletínski vê profunda influência
desse movimento de reencontro com o mito.
Considerando que o estudioso
soviético dedicou a maior parte do seu livro à estruturação de um sólido
sistema e não à discussão de casos particulares, temos que Do mito à
literatura serve como um excelente ponto de partida para compor a base de
novas pesquisas, em especial aquelas que estudam as particularidades de uma
obra, de uma cultura ou momento histórico. Além disso, os pesquisadores
brasileiros encontram em Do mito à literatura um campo particularmente
fértil para colher seus próprios frutos, pois a nossa literatura não teve
penetração suficiente na Rússia para que fosse satisfatoriamente levada em
consideração por Meletínski. Por exemplo, o Macunaíma de Mário de Andrade
poderia ser lido na chave de uma primeira fase de remitologização em âmbito
brasileiro, mas isso não é discutido pelo crítico, o que também se explica pela
sua tradução tardia para o russo, ocorrida apenas na década passada.
A edição da Ateliê Cultural, lançada
em 2024, foi traduzida diretamente do russo por Aurora Fornoni Bernardini,
professora aposentada de literatura russa e teoria literária da Universidade de
São Paulo. A experiência da tradutora com o pensamento meletinskiano se nota
pela sua história com as edições da obra, que remonta à primeira edição de Os
arquétipos literários em 1998, e essa familiaridade transparece em sua
tradução fluida e precisa.
______
Do mito à literatura
E. M. Meletínski
Aurora Fornoni Bernardini (Trad.)
Ateliê Editorial, 2024
184p.





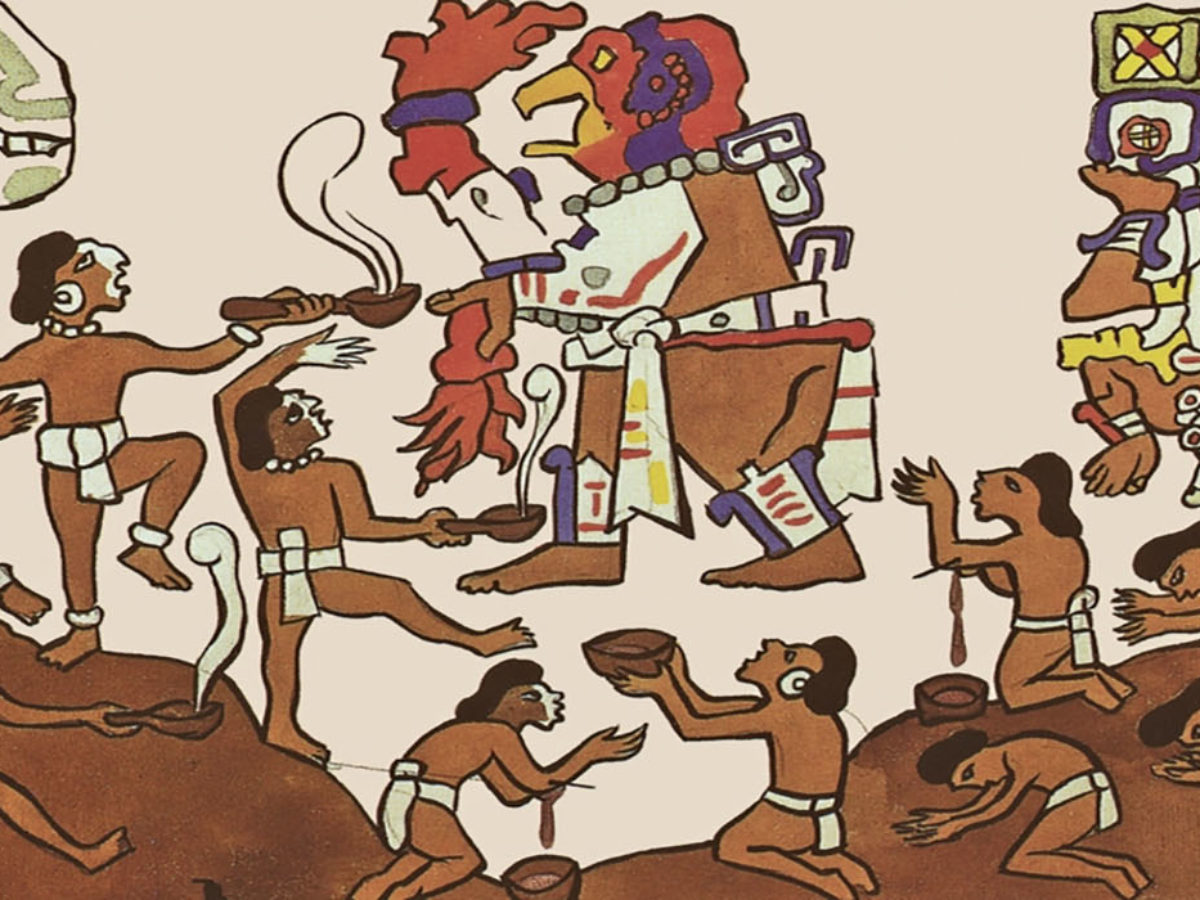


Comentários