Elizabeth Finch, de Julian Barnes
Por Roberto Frías
 |
| Julian Barnes. Foto: Graham Jepson |
A história, a religião, a política e a cultura constituem preocupações constantes dos livros que Julian Barnes publicou nas décadas de 1980 e 1990. Surpreendendo a crítica e o público com suas ideias e propostas talentosas a meio caminho entre o ensaio, o romance e a filosofia. Esta série de grandes obras épicas inclui livros como O papagaio de Flaubert (1984), Uma história do mundo 10 ½ capítulos (1986), O porco-espinho (1992), Inglaterra, Inglaterra (1998) e Arthur & George (2005).
Parece-me, e é claro que suponho, que a morte da esposa de Barnes, Pat Kavanagh, em 2008, uma famosa agente literária, marca uma diferença substancial na natureza do seu trabalho. Parece evidente que a partir de O sentido de um fim (2011), romance com o qual finalmente ganhou o merecido Booker Prize, iniciou-se um caminho memorialístico caracterizado pela relevância da própria experiência, pela revisão das amizades, da família e da própria decadência e do medo (medo da natureza ilógica e injusta da morte).
Muitos anos depois de Uma história do mundo 10 ½ capítulos, ele também voltou ao registro que lhe deu maior projeção com O ruído do tempo (um romance esmagador sobre Dmitri Shostakovich), mas seu estilo... quando se é um leitor assíduo de alguém tem algo de terrível envelhecer juntos. Claro que nenhum leitor é tão sagaz como quando era jovem, mas o escritor adquire a dimensão daquele sujeito cujas histórias têm menos estilo e maior profundidade, sem nunca perder, é claro, o toque pessoal, que vem diretamente da identidade em si. Foi o que aconteceu comigo ao ler seu romance mais recente, Elizabeth Finch. Não me interpretem mal, Julian Barnes continua a escrever verdadeiras lições de literatura, mas esta é mais suave, mais curta e com menos necessidade de sobrecarregar. Uma peça de câmara. E talvez isso não seja nada ruim. Francamente, um pouco mais sábio, se possível.
Dissemos que existiu uma inspiração em Hilary Mantel, na sua erudição e pensamento histórico bem-humorado, mas também num incidente que a colocou nos tabloides britânicos e também nos mais sérios, quando afirmou numa conferência que Kate Middleton, tal como Ana Bolena, não tinha outra função do que ser vista e procriar. E que ela foi aceita pela família real por ser submissa e não ter agenda própria (ao contrário de Lady Di). Mantel apenas denunciava o abuso de objetificação das mulheres e a cobertura absurda da família real pela mídia inglesa. Mas metade da imprensa da época a atacou impiedosamente e de maneira pessoal. Algo semelhante acontece com a professora Finch.
No ensaio que Neil escreve sobre Juliano, fica claro que sua significação foi muito diversa na história e que embora ele fosse visto na Idade Média e na Renascença como um demônio, no século XVIII, recebeu atributos da moda iluminista, e no século XX ele foi admirado por Hitler. Da mesma forma, sua investigação sobre quem realmente era Elizabeth Finch, essa mulher que ele amava um pouco secretamente, leva a uma multiplicidade de interpretações. Em suma, Neil luta em todas as frentes do romance, com a relatividade da história, da memória e, quase com um encolher de ombros, com a única certeza final, a da morte.
Temos que nos enganar, entre o que somos e o que acreditamos ser, para sobreviver cada dia. Enganamo-nos racialmente, culturalmente, religiosamente, politicamente ou historicamente, aliás, em quase tudo, para dar sentido às coisas e nos agarrarmos a uma série de certezas. “Interpretar mal a nossa própria história faz parte de ser uma nação”, disse Jules Renan, citado por Barnes, que logo acrescenta o mesmo para “de ser uma família”, “de ser uma religião” e “de ser uma pessoa”.
______
Elizabeth Finch
Julian Barnes
Léa Viveiros de Castro (trad.)
Rocco, 2022
Rocco, 2022
192 p.
* Este texto é a tradução de “Testamento”,
publicado aqui, em Confabulario.





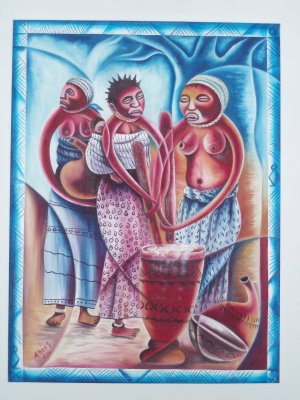

Comentários