Em busca de Katherine Mansfield
Por Cristian Vázquez
 |
| Katherine Mansfield. Foto: Walter Benington. |
Katherine Mansfield viveu uma vida curta. Ela tinha trinta e quatro anos
quando, um século atrás — em 9 de janeiro de 1923 — a tuberculose a matou. Havia
publicado três livros: Numa pensão alemã (1911), Felicidade
(1920) e Festa no jardim (1922), títulos aos quais se deve acrescentar
um par de longas histórias que apareceram em pequenas edições feitas à mão: Prelúdio
(1917) e Je ne parle pas français (1918). E vários outros contos e
resenhas publicadas em revistas mais o que deixou em meia centena de cadernos
inéditos.
Essa obra foi suficiente para que ela se tornasse uma das mais
importantes escritoras do século XX. A mãe do conto moderno, poderíamos dizer.
Ricardo Piglia, em suas famosas “Teses sobre o conto”, afirma que a “versão
moderna” do conto — aquela que abandona “o final surpreendente e a estrutura
fechada” do conto clássico ao estilo de Poe, Maupassant e Horacio Quiroga — “vem
de Tchekhov, Katherine Mansfield, Sherwood Anderson e do Joyce dos Dubliners”.
Após a morte de Mansfield (que nascera na Nova Zelândia em 1888 e se
mudara para Londres pouco antes dos vinte anos), seus cadernos inéditos foram
deixados na posse de seu companheiro, o crítico e editor inglês John Middleton
Murry, que logo decidiu publicá-los. Como costuma acontecer nesses casos, é
impossível saber até onde foi o desejo de divulgar e prestigiar a obra da autora
e de onde partiu o interesse econômico do herdeiro.
“Decidi publicar um volume contendo todos os contos e fragmentos de contos
escritos por minha esposa desde a publicação de Festa no jardim”,
escreveu Murry em uma carta a seu agente literário J. B. Pinker algumas semanas
após o funeral de Mansfield em fevereiro de 1923. “Será um volume pequeno e se
venderá, eu acho, por cinco libras”, acrescentava Murry. Deve ser publicado o
mais rápido possível, enquanto seu nome e fama ainda estão frescos na mente do
público.”
E assim aconteceu: nos anos seguintes à morte da escritora, seus poemas
e alguns volumes de contos que só haviam aparecido em revistas vieram à luz.
Mas o maior impacto se produziu em 1927, com o surgimento do Diário de
Katherine Mansfield. O livro, com prefácio e anotações de Murry, foi um sucesso
imediato e lido desde o início como um retrato da autora; um retrato que foi
complementado por suas cartas, publicadas alguns anos depois.
A imagem que esses papéis pessoais veiculavam era a de uma mulher de
sensibilidade exacerbada, terna, quase frágil. “Todos aqueles que conheceram
Katherine Mansfield nos anos de sua breve vida tiveram a impressão de descobrir
uma criatura mais delicada que os outros seres humanos”: com essa frase abre
sua biografia A vida breve de Katherine Mansfield, de 1980, do italiano
Pietro Citati. Uma ideia que, entre muitos leitores, continua válida.
Mas era realmente assim? “Contemporâneos de Mansfield vislumbraram, em
palavras mais ou menos virulentas, do que a acadêmica Gerri Kimber décadas
depois viria a chamar de ‘o mito de Mansfield’: a Mansfield retratado nos
diários e correspondências não era nada parecida com a pessoa real, esta não
era tão doce e angelical quanto aqueles papéis a faziam parecer”.
Quem explica assim é a pesquisadora Eleonora González Capria, no prólogo
de Sopa de beterraba, livro publicado em Buenos Aires pela Eterna
Cadencia [n.t. citado aqui em tradução livre] em meados do ano passado, com
textos de Katherine Mansfield que até então permaneciam inéditos em espanhol ou
foram oferecidos apenas em versões “censuradas ou editadas”. Então, se aquela
versão “doce e angelical” não era nada parecida com a pessoa real, alguém se
pergunta: como era a verdadeira Katherine Mansfield?
* * *
Fundamental para tentar pelo menos uma aproximação a uma Katherine Mansfield
mais autêntica foi o trabalho de vários pesquisadores que acessaram os
documentos originais de Mansfield após a morte de Murry em 1957. Entre esses
pesquisadores está a bibliotecária neozelandesa Margarett Scott, que passou
longos anos transcrevendo as difíceis e às vezes desesperante caligrafia de
Mansfield. Entre 1984 e 2008 publicou, em cinco volumes, as cartas da escritora.
Sua maior contribuição, no entanto, foram os dois volumes de The Katherine
Mansfield Notebooks: Complete Edition, de 1997.
O que o livro revelou foi que — surpresa! — a boa e velha Katherine não
tinha escrito nenhum diário. Pelo menos não um diário comum, não da forma como
fazem aqueles que mantêm um diário com o objetivo sustentado de documentar o
cotidiano. O que Mansfield escrevia eram cadernos. Notebooks. O legado
inédito com o qual ficou John Middleton Murry após a morte de sua esposa foram
cinco dezenas de cadernos, nos quais se misturavam contos inacabados, apontamentos
com enredos para romances e outros projetos, poemas, rascunhos de cartas, notas
introspectivas escritas em pedaços soltos de papel, receitas de culinária, listas de compras e de
despesas... e entradas de diário.
A tarefa de Murry foi selecionar muitos desses registros, colocá-los em
ordem, escrever notas e um prefácio e oferecê-los à impressão como se fossem,
de fato, um diário. “As operações editoriais de Murry — especifica González
Capria — incluem a ocultação deliberada da natureza dos materiais em sua posse;
a glosa dos textos, como presença tutelar constante que intervém no corpo da
escrita para esclarecer esta ou aquela passagem; a transformação do gênero em
que essas textualidades deviam se inscrever e algo ainda mais grave: a omissão
não declarada de passagens na correspondência e nas entradas possíveis para um
diário, ou seja, expurgo ou censura”.
Consequentemente, essas intervenções “censuram aspectos mundanos ou
controversos de Mansfield, ou elementos que seu marido decidiu preservar por
motivos pessoais”, continua a especialista argentina, que não apenas escreveu o
prefácio Sopa de beterraba, mas também selecionou e traduziu os textos
para essa edição. Quais são esses aspectos omitidos? “As referências
escatológicas, amorosas e sexuais, as referências a algum amante, certas frases
que podem ser entendidas como críticas ou têm potencial para causar um
escândalo, alusões ao suicídio.”
A versão completa dos cadernos, editada por Scott, oferece “um retrato
convincente de uma mulher complexa que era ambiciosa e às vezes implacável,
neurótica e sexualmente voraz, espirituosa e incisiva, fascinada pelas minúcias
da vida cotidiana e obcecada pela morte”. Algo muito distante da imagem “doce e
angelical” que se impôs por décadas.
* * *
Kathleen Mansfield Beauchamp nasceu em Wellington, Nova Zelândia. Era “a
do meio” de duas irmãs mais velhas e uma irmã e um irmão mais novos. Entre 1903
e 1906 sua família mudou-se para Londres, onde Katherine — que publicou seu
primeiro conto aos nove anos de idade e já tinha paixão por escrever —
frequentou o Queen’s College e ficou fascinada pelo trabalho de autores como
Henrik Ibsen e Oscar Wilde e, sobretudo, com a vida numa das capitais do mundo.
Ao voltar para a Nova Zelândia, sentiu como se estivesse se afogando:
tudo ali parecia provinciano e cinza. Pediu a seus pais que permitissem seu regresso
para Londres e, talvez como forma de pressioná-los, ela começou a chocar as
rígidas convenções da sociedade de Wellington ao se envolver em aventuras
românticas e sexuais com homens e mulheres. Poucos meses antes dos vinte anos, conseguiu
atender seu desejo: seu pai atribuiu-lhe uma renda anual de cem libras
esterlinas e, assim, voltou à metrópole em meados de 1908.
O que veio a seguir foi caótico. Katherine estabeleceu relações com o
então novo círculo de Bloomsbury e mergulhou na vida boêmia da cidade. Teve um
caso com um antigo colega de escola; embora tenha engravidado, o relacionamento
não prosperou. Ela se casou com um professor de canto que a abandonou ainda na
noite de núpcias (embora no papel tenham permanecido casados até 1917). Contraiu
gonorreia e seus problemas pulmonares começaram. Sua mãe viajou para Londres
para “resgatá-la” daquele descontrole e a levou para Bad Wörishofen, uma
pequena cidade alemã famosa por suas fontes termais e o suposto poder curativo
de suas águas. Foi onde Katherine sofreu um aborto espontâneo. Quando a mãe
voltou para a Nova Zelândia, ela riscou a filha rebelde de seu testamento.
Não há mal que não venha para o bem: desses tempos de busca desesperada
por experiências — e dos seis meses de solidão em Bad Wörishofen como forma de
reabilitação — surgiram os contos de Numa pensão alemã. Neles, Mansfield
questionava os padrões duplos que permitiam aos homens desfrutar de sua
sexualidade enquanto as mulheres não apenas não podiam, mas também sofriam as
consequências da liberdade dos homens.
 |
| Katherine Mansfield e John Middelton Murry. Arquivo National Library Nova Zelândia. |
No final de 1911, em um jantar oferecido pelo escritor W. L. George para
comemorar a publicação do primeiro livro de Mansfield, ela conheceu um editor a
quem acabara de enviar um conto intitulada “A mulher na loja”. Era John
Middleton Murry, que se tornaria seu parceiro, depois seu marido e, finalmente,
seu herdeiro.
* * *
Em outubro de 1915, a escritora recebeu a visita de Leslie, seu adorado
irmão caçula, na Inglaterra. Compartilharam uma semana juntos, durante a qual “passaram
horas e horas conversando sobre sua infância”, disse Murry, “e Katherine
Mansfield decidiu se dedicar a recriar as sensações e experiências de sua vida
na Nova Zelândia”. Depois Leslie partiu para a linha de frente da Primeira
Guerra Mundial e morreu apenas um mês depois.
A morte de seu irmão foi um acontecimento traumático que comoveu
profundamente a escritora. Além disso, como Murry explica em outra de suas
anotações no Diário: “É notável que nenhum dos amigos de Katherine que
foram para o front voltou vivo. Isso explica a impressão profunda e
inextirpável que a guerra lhe causou.”
Desde então, como acontece com tantos imigrantes, o lugar de onde se
esforçou para sair tornou-se uma espécie de paraíso perdido. No seu caso, não
foi apenas uma localização geográfica, Karori, subúrbio de Wellington: foi
também a infância. Aqui está o germe de muitas de suas mais belas e conhecidas
histórias: “Festa no jardim”, “Prelúdio”, “Na baía”, “A casa de bonecas”, “Felicidade”.
Karori, na verdade, foi o título de um romance que ela projetou mas não
conseguiu escrever. Personagens como a pequena Kezia, que aparece em vários de seus
contos, tornaram-se cativantes para os leitores, tanto naquela época quanto
hoje.
Muito melhor do que tentar descrever como ele escrevia é, claro, se
propor a ler seus textos. Mas que sirva de incentivo este elogio de Virginia
Woolf, que foi sua amiga e sua rival: “Poucos sentiram a importância de
escrever com mais seriedade do que ela.” Após a morte de Mansfield, a autor de Um
teto todo seu admitiu: “Ela é a única escritora de quem já tive ciúmes.” E
que sirva de incentivo esta pequena amostra do estilo de Mansfield:
Se fosse possível distinguir o
amor verdadeiro do falso como se distinguem os bons dos maus cogumelos! Para
estes é tão simples! Basta polvilhá-los com sal, pô-los de lado e esperar. Mas,
no que diz respeito ao amor, logo que descobrimos qualquer coisa que de longe
se lhe assemelhe, estamos absolutamente certos não só de que é um espécimen
autêntico, mais ainda de que é talvez o único cogumelo verdadeiro ainda por
colher. E é necessário um número terrível de cogumelos venenosos para nos
convencermos de que a vida não é toda ela um imenso cogumelo comestível.
* * *
Sua saúde começou a piorar acentuadamente quando ainda não tinha trinta
anos. Em dezembro de 1917, foi diagnosticada com tuberculose. “Sou uma inválida.
Passei a vida na cama”, anotará em seus cadernos. “A vida foi reduzida a
respirar mais uma vez. O resto não é importante.” Como tantos outros autores,
tinha uma relação por vezes torturante com a escrita e com os seus próprios
textos: “Cada vez que tenho uma conversa ligeiramente interessante sobre arte
sinto vontade de implorar a Deus que me dê forças para queimar tudo o que escrevo
e recomeçar, porque me parece que não passa de vários começos falidos”.
“Pergunto-me, mais uma vez, a minha Eterna Questão”, anotou em meados de
1918. O que torna a escrita tão difícil para mim?” Um ano depois anotava: “A
única coisa que peço é ter tempo para poder escrever os meus livros. Então não
terei problemas em morrer. Vivo para escrever.” E ainda: “Só preciso de paz, de
estar só, de ter tempo para escrever os meus livros, de uma bela vida exterior
para contemplar e ponderar. Ah, eu também gostaria de ter um filho, um menino, mais
je demande trop! [mas estou pedindo demais]”. Um desejo, de ser mãe, que ela
não conseguiu realizar.
A imagem “doce e angelical” que se manteve durante décadas baseia-se na
fragilidade desses últimos anos, e que esconde os tempos de luxúria e rebeldia
de — apenas — dez anos atrás. É que a breve existência de Mansfield incluiu muitos
capítulos, como se o roteirista de seu destino tivesse querido condensar todas
as experiências antes que a boa Katherine chegasse ao que Dante considerava o mezzo
del cammin di nostra vita.
O último conto que completou foi “O canário”, concluído em julho de
1922. Escreveu o máximo que pôde nos meses seguintes, mas já sabemos (para
dizê-lo em termos de Bolaño, outro morto prematuro): literatura + doença =
doença. Em outubro daquele ano, mudou-se para Fontainbleau, na França, para
ingressar em um “instituto para o desenvolvimento harmonioso” no qual a
escritora derrubou as expectativas de cura que a medicina tradicional não havia
conseguido satisfazer. Ali, na noite de 9 de janeiro de 1923, após subir
correndo algumas escadas, sofreu uma hemorragia pulmonar que ocasionou sua
morte. Dias depois, o corpo de Katherine Mansfield foi enterrado no cemitério
de Avon.
Ao contrário de Kafka (que morreria um ano e meio depois e cujo Diário
cobre um período muito semelhante à versão dela editada de Murry), Mansfield
não solicitou expressamente que todos os seus papéis fossem destruídos. Mas seu
testamento, assinado em 14 de agosto de 1922, explicitava seu desejo: “Que o
mínimo possível seja publicado e o máximo possível destruído e queimado”. É
claro que seu companheiro, como Max Brod para o autor de O processo, deu
pouca atenção ao que ela disse.
“O que lemos é tão íntimo que quase me sinto culpada por ter percorrido
estas páginas”, confessou Dorothy Parker em 1927, semanas após a publicação do Diário.
“É um livro magnífico, mas acho que apenas os grandes olhos tristes de
Katherine deveriam ter lido essas palavras”. De fato, apesar das operações de
Murry, o Diário é um livro muito bonito, que vale a pena ser lido, e uma
excelente porta de entrada para as histórias da autora.
Suponho que quase sempre, diante dos textos póstumos dos escritores que
admiramos, sentimos aquela contradição: queremos e não queremos lê-los. Quando
acabamos cedendo à tentação — com alguma culpa, mas no melhor dos casos com
muito prazer — justificamos nossas ações com a suposição de que, em última
análise, esses textos foram escritos para serem lidos. De qualquer forma,
apesar dos temores de seu companheiro, o nome e a fama de Katherine Mansfield
permanecem frescos na mente do público um século após sua morte. O que é mais
importante: seus livros continuam encontrando seus leitores. Não é pouco para
aquela jovem neozelandesa que veio para Londres com o desejo de conquistar o
mundo e que ainda hoje, um século depois da sua morte, continua a levantar
questões.
* Este texto é a tradução livre para “En busca de Katherine Mansfield”,
publicado aqui, em Jot Down.
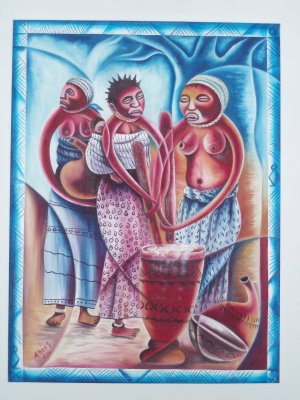





Comentários