Moby Dick e as sereias
Por Jacinto Antón
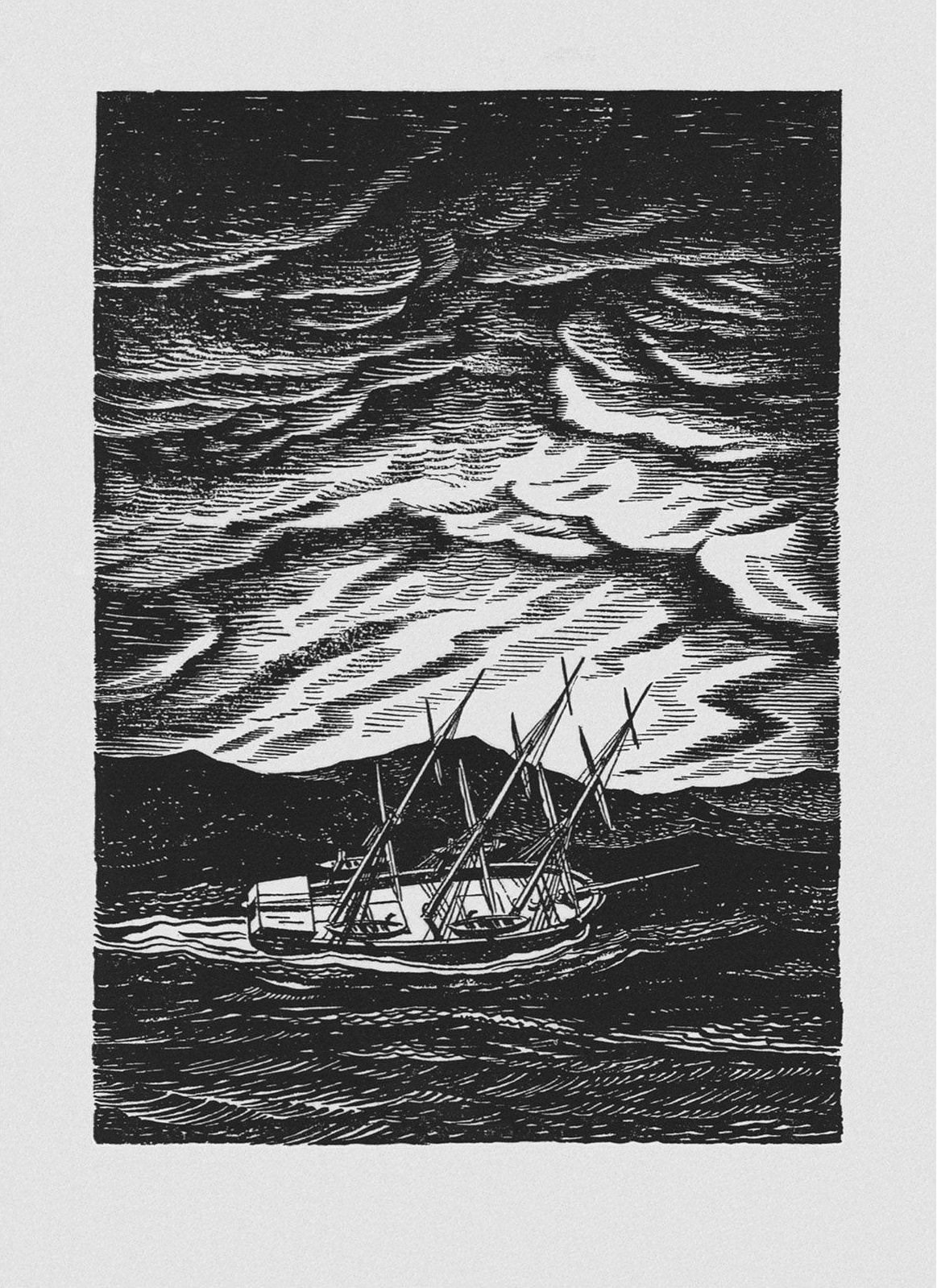 |
| Ilustração para Moby Dick. Rockwell Kent. |
Costumo voltar ao mar e a Moby
Dick. No romance de Herman Melville, a tragédia do navio melancólico, você
sempre encontra emoção e um raro consolo (ainda que seja o de não pertencer à
tripulação do Pequod), e a cada leitura descubro coisas novas. Não sei o que me
levou esses dias a embarcar novamente, mochila e arpão no ombro: uma vaga
nostalgia, uma semana isolado pela Covid (felizmente não na pousada El Chorro
em New Bedford com um canibal tatuado do outro lado da cama), tendo visto com
meus próprios olhos em um estaleiro de Ferrol o triste casco devastado de La
Perla Negra, o veleiro naufragado em Chipiona; ou a imagem na televisão da
baleia pulando na costa de Garraf... Também tendo conseguido um maravilhoso
livro pop-up, o que costumávamos chamar de recortado ou desdobrável,
sobre Moby Dick, com “engenharia de papel” de Gérard Lo Monaco e
ilustrações em linogravura de Joelle Jolivet
(Chronicle Books, San Francisco, 2019), comprada por um centavo — que vale a
pena — em Laie. Passei longas horas debruçado no pequeno teatro, imerso em sua
magia tridimensional e lembrando minhas noites sem dormir em Nantucket
encostado na janela do quarto do pequeno hotel Jared Coffin House (é normal ter
insônia em um lugar que tem a palavra caixão no nome, embora a vida de Ismael
tenha sido salva por Queequeg).
O fato é que peguei meu velho
exemplar surrado do romance (a edição da Planeta de 1976 com tradução e
notas de José María Valverde) e, tendo como pano de fundo as imagens do
desdobrável (a baleia com a cauda levantada como um campanário de mármore), mergulhei nele,
confortando-me com sua prosa épica e com todas aquelas passagens que fazem
parte do nosso acervo: a cena em que arpoadores e marinheiros cantam “Saudações
e adeus, senhoras espanholas” no castelo de proa (sim, a canção que Spielberg colocou na boca de Quint
em Tubrão), o momento em que Pip, um menino pobre do Alabama, pede ao
grande Deus branco que o salve “de todos os homens que não têm coragem de
sentir medo”, o do sacrílego batismo dos arpões com sangue pagão, o do pálido fogo
de San Telmo, e o da lágrima de Ahab caindo no mar; o capítulo sobre a brancura
da baleia, as três jornadas de sua caça ou as duas vezes que Starbuck diz que “ah
meu capitão, meu capitão” (capítulos 132 e 135), tão parecido com o verso “oh
capitão, meu capitão” que Walt Whitman tornaria imortal 14 anos depois em seu
famoso poema dedicado à morte de Lincoln. Whitman se inspirou em Melville? Melville
certamente se inspirou em Shakespeare: as profecias enganosas de Fedallah são
puro Macbeth, as dúvidas de Starbuck, hamletianas e os monólogos de Ahab
cem por cento elizabetanos, como enfatizou o grande Charles Olson (Chame-me
Ishmael, Siruela, 2020).
Não me lembrava que Ahab (que por
sinal é um “velho” que tem apenas 58 anos no romance) quebra a perna artificial
feita com o marfim de cachalote em seu segundo ataque a Moby Dick e que o
carpinteiro do navio faz outra, esta sim feita de madeira, da quilha do barco
naufragado do capitão. Nem que o mesmo Ahab tenha o chapéu carregado por uma
ave marinha.
Mas o mais surpreendente dessa
nova leitura foi descobrir que em Moby Dick há menção às sereias. Nunca tinha
notado isso. É verdade que uma relação artificial foi estabelecida entre o
romance e as lendárias criaturas ao escolher como logotipo a rede Starbucks (denominada
assim em homenagem ao primeiro oficial da tripulação de Ahab) uma sereia, mas no
meu caso isso foi um acaso. A menção direta das mulheres aquáticas no livro aparece
no capítulo 126. Nele se nos conta como, navegando na escuridão que antecede o
amanhecer, passando por algumas ilhotas rochosas no Pacífico, a leste das ilhas
Salomão, a tripulação do Pequod é assustada por um grito “terrivelmente selvagem!
e sobrenatural”. Alguns, “a parte cristã ou civilizada da tripulação, disseram
que eram sereias, e se estremeceram”, enquanto os arpoadores pagãos
permaneceram implacáveis. O homem da Ilha de Man, o mais velho dos marinheiros
(e um personagem tão enigmático), declara que os ruídos chocantes são “as vozes
dos marinheiros recém-afogados no mar”. Por seu lado, o narrador conta-nos que
aquelas ilhas rochosas por onde passara o navio eram refúgio para um grande
número de focas, “e algumas focas jovens que teriam perdido as suas mães, ou
algumas mães que teriam perdido os seus filhotes, deviam ter se aproximado do
navio, acompanhando-o, com seus gritos e gemidos, que parecem humanos”.
Pouco depois, um marinheiro do
Pequod que sobe no mastro para procurar a baleia cai na água e desaparece. E a
tripulação especula que a morte foi o motivo dos gritos insanos da noite
passada. Mas no dia seguinte eles encontram o Rachel que os informa que estão
procurando a tripulação de um dos botes baleeiros que desapareceu depois de
tentar caçar Moby Dick, incluindo o filho de 12 anos do capitão Gardiner. E o velho
marinheiro da Ilha de Man afirma que o que eles ouviram do Pequod foram os
espíritos dos afogados.
De qualquer forma, há aquela
pequena contribuição melvilliana, à qual se deve acrescentar a possibilidade de
o próprio Melville ter tido uma experiência com uma sereia. Não é improvável
que o escritor tenha visto a famosa sereia de Fiji, a famosa fake feita
com um macaco e um peixe que P. T. Barnum exibiu em seu museu de freaks
em Nova York em 1841. Outra ligação, essa muito divertida, é o espetáculo
teatral de 2009 sobre Moby Dick da companhia britânica Spymonkey, em que uma
sereia aparece cantando e dançando de forma bastante lasciva diante dos
arpoadores do Pequod.
Para terminar com outra nota
humorística, reveja um capítulo de La baleine dans tous ses états, um
ensaio literário e de viagem pessoal sobre cetáceos, de François Gardé
(Gallimard, 2015). Neste engraçado capítulo Woodyallenesco, um suposto
editor argumenta em uma carta a Melville (“cher M. Melville”) os motivos da sua
recusa em publicar Moby Dick. Desde o início, ele estraga o título
(“sabemos o que significa dick”) e propõe outro como A la recherche
de la baleine perdue; depois o repreende pelo excesso de citações, pelo
fato de o autor não parecer saber para onde vai ou qual é o verdadeiro assunto
do romance; que o livro é muito longo, que na maioria das vezes “nada acontece”,
que o Pequod não faz escalas (“com a quantidade de lugares pitorescos que há no
Pacífico”), que os diálogos são inverossímeis (marinheiros, “gens de sac et de
corde”, que falam, criticam, como filósofos ou personagens de teatro), que não
apareçam mulheres... O fictício editor de Melville recomenda: “Um livro sobre a
caça da baleia pode sem dúvida interessar, mas escolha um ângulo, apenas um, e
atenha-se a ele.” E finaliza: “Não desanime, reflita sobre as minhas críticas,
não se deixe levar por não sei que algazarra metafísica, tire Ahab do mundo
estéril das teorias e dos arquétipos”. Eu poderia ter sugerido, aliás, que aparecessem
mais sereias...
* Este texto é a tradução livre
para “Moby Dick y las sirenas”, publicado aqui, no jornal El País.






Comentários