A raiz das metamorfoses
Por Marcelo Moraes Caetano
O estudo do sânscrito, tão
relevante aos filólogos, tem uma inevitável fronteira com o conjunto sapiencial
védico, de mais de 6000 anos de idade, inscrito nos livros mais antigos de que
o ser humano tem notícia. O pensador britânico William Jones, em 1786, na
confraria denominada “Sociedade de Calcutá”, contribuiu enormemente para
desvelar a cortina de fumaça que escondia o elo perdido entre línguas como
latim, o grego, as línguas eslavas e germânicas, entre outros troncos linguísticos
supostamente díspares, ao demonstrar que suas raízes se fundavam numa
protolíngua cujo nome é “Indo-Europeu” – pois o sânscrito veio da Índia e se
deflagrou pela Europa; e vice-versa! O idioma sânscrito, como ensinam os
mestres, deve ser estudado como fórmulas matemáticas revestidas de poesia, pelo
fato, já mencionado, de ser oriundo da tradição védica, cuja busca é a
desconstrução das fantasias que semicerram olhos e olhares das sociedades.
Inicio esta pequena leitura de A
lei da metamorfose – de Ovídio a Kafka, de Gustavo Bernardo, com a menção ao
sânscrito e sua potência e eficácia desveladora da fantasia social pelo fato de
que a obra de Gustavo é igualmente potente e eficaz, e também de modo
anatomicamente poético, para dissipar certas névoas que turvam o entendimento
da matéria da transformação, assim como as línguas, por iguais metamorfoses,
provieram de uma unidade a que retornam, como os pré-socráticos precursores de
Ovídio anunciavam: “De onde as coisas partem, para aí mesmo retornam”. Também
me pareceu importante a menção ao sânscrito e à filologia porque o livro
derrama loas merecidas ao trabalho de filólogos em relação aos textos, aos
mitos e aos símbolos prototípicos abordados nas marés das páginas. Todas essas
questões atinentes à linguagem, à fantasia, ao poético e ao matemático, enfim,
vicejam no livro.
Gustavo Bernardo mostra, à maneira
do erudito William Jones, que, por trás de mitemas (como diria Barthes) de “A
Bela e a Fera”, “o Dragão”, “o Lobo”, “Kafka”, “a Criatura”, em síntese, há sempre
uma espécie de rito iniciático em que se retorna ao paraíso de que fomos
cruelmente expulsos pelo capricho literalista (e não literário) de um Deus
Monoteísta (não seria o Monoteísmo uma forma de ditadura?), uma Entidade
Absolutista do mais alto patriarcado judaico-cristão-arábico.
Eric Berne, discípulo heterodoxo
de Freud, com suas lições de Análise Transacional, vem nos lembrar, compondo o
coro com Gustavo Bernardo, que todos nós nascemos príncipes ou princesas; que
algum feitiço FATÍDICO nos torna sapos de olhos esbugalhados e tez macilenta e
pegajosa; e que, por causa disso, precisamos despender parte significativa do
significado de nossos significantes da vida para que esse feitiço enfim se
desfaça sotoposto por um encanto FEÉRICO que nos restitua a beleza e a nobreza principescas
de nosso pedigree. Não é à toa que “fatídico” e “feérico” são filologicamente
palavras da mesma etimologia de “fato”, de “fado” e de – FADA. Isso porque
geralmente cabe a uma fada ao avesso, uma anti-fada, geralmente conotada como
“bruxa”, nos malfadar ao feitiço batráquio, do qual saímos pelas mãos de uma
fada que vê de cima, uma meta-fada, a nos retirar o fado dando-nos seu
correlato luminoso e feminino, o que nos liberta e permite nosso retorno a ser
o que sempre fomos.
A condição da mulher, naturalmente
trazendo em seu encalço todas as “populações secundárias”, no dizer de Simone
de Beauvoir, nesse jogo lúdico-sado-masoquista, é bem evidenciada por Gustavo
Bernardo. Ele mostra que, num subtexto sibilino, quase sempre nos contos
tradicionais a mulher é castigada pelo simples fato de incorrer no fado de ser
mulher. Se a isso se somar o fado de ser bela, o castigo geralmente é dobrado. Afinal,
a beleza desmistifica o prazer que padres inquisidores, exemplo citado no
livro, devem recalcar a fim de manterem suas fachadas de seres não
metamorfoseantes.
O atrito entre a civilização e a
natureza, que um Bacon rebaixou ao nível mais grotesco ao afirmar que “a
natureza deve ser subjugada e torturada pela racionalidade”, é igualmente
revisto em sua epifania, digamos, pré-Éden: sem pecado, sem separação, sem
dualidade. Tortura-se o bicho, a criatura, a fera, o lobo, o dragão, por serem
entidades que representam ser possível viver sob o sol e o ar puros do estado
de natureza “de onde as coisas partem”, ou seja, primitivo, primevo,
primordial.
Para não tirar ao leitor a saga
deliciosa, filológica e poética em que Gustavo Bernardo se embrenha, estendendo-nos
a mão, estaciono por aqui meus comentários. Deixo que eles se metamorfoseiem com
o condão da fé e do terror de quem se aventurar ao livro.
Pode ser que este leitor,
aturdido, prefira ficar “como as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar”, de
Raul Seixas. Mas o mais desejável é que tenham estômago bastante para digerir a
doce monstruosidade por trás de fatos comezinhos aparentemente banais, como uma
repugnante barata desprezível, que entretanto é um respeitável cidadão
civilizado, numa inversão da tortura de Bacon há pouco aludida, pois aqui é a
natureza que subjuga e tortura a racionalidade. Há fatos e fados “normalizados”
por uma sociedade que demoniza as metamorfoses como verdadeira afronta ao
status quo codificado em livros religiosos teologais e tratados de metodologia
científica igualmente, não raro, teologais.
Sugere-se que é por isso que os
fados se desvanecem quase sempre com a conduta de fadas celtas – criaturas
femininas e alheias às codificações patriarcais, flutuando por sobre elas –, de
tal maneira que seja possível uma restituição da “criança saudável”, para
evocar Eric Berne mais uma vez quando descreve e desdobra seu “triângulo
dramático” em “perseguidor, salvador e vítima”. A criança estava no início e
estará no fim, mesmo passando pelo estágio de vítima, mas só após a temível
metamorfose a que deverá lançar-se sem medo, nem culpa.
“A lei da metamorfose” é como um
sânscrito, que mostra haver, por baixo da inelutável campanha de gregos contra
troianos, uma mesma raiz, a qual, por isso mesmo, pode ser desvendada com o
estatuto de lei. O “bem” e o “mal”, assim, se submetem a um mesmo superestrato
linguageiro, que a literatura, por ser poética, expõe até os andaimes mais
anatômicos e matemáticos como uma lei sólida que se desmancha no ar.
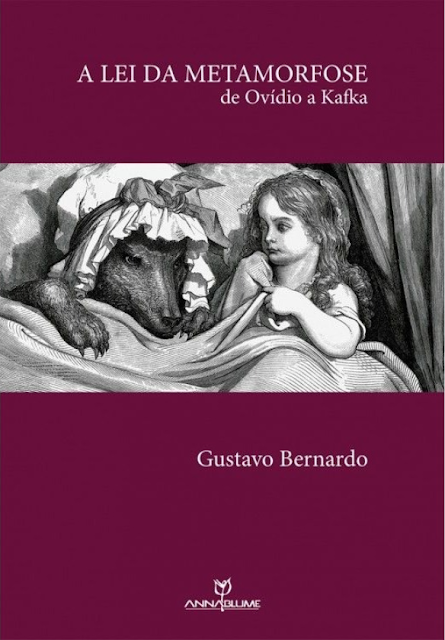






Comentários