A resistência ao espírito absoluto em “Vozes d’África”, de Castro Alves
Por Wagner Silva Gomes
Em “Vozes d’África”, poema de
Castro Alves da segunda metade do século XIX (1868), tem-se a reconstrução do
cenário da diáspora africana. Isso fica evidente na segunda estrofe em que o
eu-lírico, a África em forma humana, ou seja, personificada, é comparada a
Prometeu, numa cena cheia de metáforas, onde, como o deus que concedeu ao ser
humano a luz do conhecimento, sendo castigado por Zeus, é a própria África presa
por correntes à região litorânea de Suez, na Itália. É importante atentar para
o fato de que até o ano de 1859, quando o engenheiro Ferdinand de Lesseps
construiu o Canal de Suez, o Oriente Médio era considerado parte do território
da África (Cf. SILVA, 2016). Só então houve a separação, não só geográfica, mas
também cultural. No entanto, mal sabe o opressor, não se separam, nas culturas
africanas, o homem de sua terra. Como coloca Hampaté Bâ:
“Uma vez que se liga ao
comportamento cotidiano do homem e da comunidade, a ‘cultura’ africana não é,
portanto, algo abstrato que possa ser isolado da vida. Ela envolve uma visão
particular do mundo, ou melhor dizendo, uma presença particular no mundo — um
mundo concebido como um Todo onde todas as coisas se religam e interagem”. (BÂ,
2010, p. 169).
O poeta acaba por reconhecer, com
esse gesto da Europa dependente da África, que o continente africano foi de
onde a cultura ocidental baseou-se para construir muitas das suas formas de
conhecimento. Sobre isso, diz Henrique Cunha Junior, que como afrodescendente
brasileiro, distante da terra de onde provém a sua ancestralidade, participa da
força de unidade do território, mesmo que a cultura ocidental tenha tentado os
separar. Isso mostra como o poema de Castro Alves é atual, pois mesmo no século
XX, período que Cunha Junior teve sua formação acadêmica, resgatar a
ancestralidade ou mantê-la como sujeito, é tarefa de resistência, de quebra de
correntes das mais diversas:
“Na escola, impuseram-me o
racionalismo ocidental de forma irracional, desconectados das culturas vividas
pelo meu grupo social e de meu interesse enquanto identidade histórica, ou
seja, pouco convincente do ponto de vista pedagógico. Disse o primeiro
professor de filosofia, no curso de Ciências Sociais (cursado em 1976), que o
pensar lógico e filosófico na humanidade nós devemos aos Gregos. Objeção minha
à declaração do professor, com todo o respeito. Povos anteriores aos Gregos já tinham
organizado as suas lógicas e os seus sistemas filosóficos. Coisas que eu tinha
ouvido falar em casa nas vozes dos amigos de meu pai, e que eu as descrevo em
um conto (CUNHA JUNIOR, 2005). O conflito de poder estava formado, em classe,
mas refletia um conflito maior entre as nossas sociedades com a ocidental
dominante, conflito que na época, já que não dispunha da bibliografia de que
hoje disponho, teve minha argumentação ridicularizada com a afirmação
professoral e meio sorridente de que tudo que não era grego, não era lógico,
filosófico, baseado em método e que estava externa à história da filosofia. Eu
argumentava que a história que ele chamava de história da filosofia não era
mais que a história da filosofia grega. Que deixava de fora os Núbios, Etíopes,
Egípcios, Indianos, Chineses (discurso que tomava emprestado dos discursos de
Malcon X, um dos líderes de grande importância nos Estados Unidos da América dos
anos de 1970, mas sem, no entanto, tê-lo aprofundado). Reposta meio que
silenciosa e irônica foi que eu deveria estudar, depois um dia saberia sobre o
que estávamos conversando, que até então não sabia de nada. Assim seguiu.
Perpetuou-se um sorriso irônico, um sorriso da prepotência ocidental.
Reafirmado em caracterizar tudo que fosse Africano como pré-lógico. Hoje,
depois de muito estudar e tentar aprender, confesso que em uma coisa ele tinha
razão, eu não sabia e, pior, ainda hoje sei apenas o tamanho do meu
desconhecimento. Continuo a não saber das lógicas e das filosofias da
humanidade muitíssimo mais amplas que as expressas no ocidente (CHENG, 2008), (BIDIMA,
1995), (BIYOGO, 2006), (OBENGA, 1990), (BERNAL, 1987). Vejam como os (S) esses
respectivos do plural. Também se trata de rever as supostas origens gregas da
filosofia devido a fatos de que Pitágoras estuda 23 anos no Egito, assim como
Euclides, Tales, Sólon e Platão e muitos outros gregos. A ênfase dada por G. James
(JAMES, 1954) no seu livro a “Stolen Legancy” é que o legado da filosofia dos
povos norte africanos foram apropriados pelos gregos. Esta ideia é retomada por
Martin Bernal no seu Clássico A Atenas Negra” (BERNAL, 1987) (CUNHA JUNIOR,
2010, p. 27-28).
A relação do europeu para com o
africano se revelou ingrata, violenta, opressora. Assim, como um barco pequeno,
uma galé, o continente africano fica, por meio da metonímia (o todo pela
parte), à mercê das ondas e das tempestades, transportado e preso através do
tráfico negreiro e da escravidão, para outros continentes, outra “penedia”,
como designa Castro Alves. Segue o trecho em que se passa toda essa cena:
Deus! ó Deus! onde estás que não
respondes?
Em que mundo, em qu'estrela tu
t'escondes
Embuçado nos céus?
Há dois mil anos te mandei meu
grito,
Que embalde desde então corre o
infinito...
Onde estás, Senhor Deus?...
Qual Prometeu tu me amarraste um
dia
Do deserto na rubra penedia
— Infinito: galé! ...
Por abutre — me deste o sol
candente,
E a terra de Suez — foi a corrente
Que me ligaste ao pé...
O cavalo estafado do Beduíno
Sob a vergasta tomba ressupino
E morre no areal.
Minha garupa sangra, a dor poreja,
Quando o chicote do simoun dardeja
O teu braço eternal
Não é à toa que a contemplação a
outros territórios, evocada por uma das vozes d’África só se liga às culturas
fora da Europa, continente ingrato, opressor, que como não ofereceu nada que
contribuísse para o outro como desenvolvimento coletivo também não poderia
estimular nenhum tipo de socialização cultural. Pois para a africanidade:
“A unidade faz coabitar as
diversidades, e isto pela geração da vida da comunidade, ou seja, há um regime
de signos que não prescinde da estrutura que a unidade fornece e não abre mão
da singularidade que a diversidade produz. As diferenças, nesse caso, concorrem
para a harmonia do grupo, e isso poderá correr em relações de equilíbrio social
ou conflito comunitário” (OLIVEIRA, 2017, p. 5)
Então o poeta evoca, com a voz da
África personificada, os “cimos do Himalaia”, Ásia; “os haréns do Sultão”,
Oriente Médio; o Ganges, mar da Índia, e os elefantes da região; permitindo
ainda a proximidade com o deus Brama no que o poeta chama de “pagode colossal”,
onde é claro o romantismo social, que Afrânio Peixoto, em Castro Alves, o
poeta e o poema, chama de “versos épicos abolicionistas e republicanos”
(PEIXOTO, 1942, p. 70). Nesse pagode, o citado deus é trazido para o festejo
negro com cantorias e batuques. A África convida então para a festa as regiões
e os seres que lhe dão acolhida, ou seja, onde pode vivenciar a sua tradição
oral, potencializando a sua força ancestral. Segue trecho:
Minhas irmãs são belas, são
ditosas...
Dorme a Ásia nas sombras
voluptuosas
Dos haréns do Sultão.
Ou no dorso dos brancos elefantes
Embala-se coberta de brilhantes
Nas plagas do Hindustão.
Por tenda tem os cimos do
Himalaia...
Ganges amoroso beija a praia
Coberta de corais ...
A brisa de Misora o céu inflama;
E ela dorme nos templos do Deus
Brama,
— Pagodes colossais...
A voz d’África poderia evocar Baco
para o festejo com batuques, cantorias, danças e bebidas, mas a Europa, coloca
uma das vozes, é muito “gloriosa”, e o que se percebe é a presença de um Deus
dominante, não nomeado, que é a expressão do Espírito absoluto, conceito criado
por Hegel. Esse autor concebe em tal categoria a tradição ocidental como o
ápice da cultura, “deslumbrante”, “caprichosa”, “rainha e cortesã”. Após a
aparição dessa presença no festejo da África o brilho da voz é ofuscado, pois
como o Espírito absoluto impõe a sua individualidade cultural, com sua retórica
hegemônica, opressora, não é valorizado o discurso do outro, o negro. Como
coloca Hegel em seu livro A Razão na História (1837):
“Entre as formas dessa união
consciente, a religião é a mais elevada. Nela o espírito que existe no mundo se
torna consciente do Espírito absoluto e, nessa consciência de essência
realizada (“ser em si e por si”), a vontade do homem renuncia a seu interesse
individual, colocando-a de parte em uma dedicação onde ele já não está mais
preocupado com os detalhes. Através do sacrifício o homem expressa a sua
renúncia da propriedade, de sua vontade, de seus sentimentos pessoais” (HEGEL,
2004, p. 99).
Percebe-se que a religião a qual o
autor se refere é a cristã nos moldes liberais do domínio eurocêntrico. O
discurso é impregnado pela ideologia colonial, que diz que o negro e sua
cultura são inferiores, e para se elevar, o negro, não o branco, deve sacrificar
sua propriedade, sua vontade, e seus sentimentos pessoais, isto é, deve se
submeter à escravidão. Perante essa imposição ideológica, no poema aqui
analisado, a presença d’África sai da festa “triste e abandonada”, “perdida, marchando
em vão”. E a presença hegemônica é tão opressora que a sua luz não permite que
o choro d’África chegue ao chão, o secando, objetificando a lágrima, a
desumanizando. Observe:
A Europa é sempre Europa, a
gloriosa! ...
A mulher deslumbrante e
caprichosa,
Rainha e cortesã.
Artista — corta o mármor de
Carrara;
Poetisa — tange os hinos de
Ferrara,
No glorioso afã! ...
Sempre a láurea lhe cabe no
litígio...
Ora uma c'roa, ora o barrete
frígio
Enflora-lhe a cerviz.
Universo após ela — doudo amante
Segue cativo o passo delirante
Da grande meretriz.
Nota-se que os gritos imperativos
acompanhados pela expressão exagerada da hipérbole, como em “Embalde aos
quatros céus chorando grito:/ Abriga-me, Senhor!” recurso muito utilizado pelo
poeta, objetiva o impacto, como coloca em sua dissertação, intitulada África,
travessia e liberdade, o autor Rodrigo Ferreira da Silva (SILVA, 2017,
p.29). Esses recursos, no poema, alertam para o exagero e o absurdo que é o
argumento racista da maldição de Cam. Esse, por ter visto o pai Noé nu e
contado aos irmãos, teve o filho condenado à servidão. Na interpretação eurocêntrica
racista, como Cam e seu filho passaram a habitar a África estaria o homem negro
fadado à escravidão. Observe como essa interpretação colonizadora da bíblia
aparece no poema:
Foi depois do dilúvio... um
viadante,
Negro, sombrio, pálido, arquejante,
Descia do Arará...
E eu disse ao peregrino fulminado:
"Cam! ... serás meu esposo
bem-amado...
— Serei tua Eloá. . . "
Desde este dia o vento da desgraça
Por meus cabelos ululando passa
O anátema cruel.
As tribos erram do areal nas
vagas,
E o nômade faminto corta as plagas
No rápido corcel.
Vi a ciência desertar do Egito...
Vi meu povo seguir — Judeu maldito
—
Trilho de perdição.
Depois vi minha prole desgraçada
Pelas garras d'Europa — arrebatada
—
Amestrado falcão! ...
Cristo! embalde morreste sobre um
monte
Teu sangue não lavou de minha
fronte
A mancha original.
Ainda hoje são, por fado adverso,
Meus filhos — alimária do
universo,
Eu — pasto universal...
Hoje em meu sangue a América se
nutre
Condor que transformara-se em
abutre,
Ave da escravidão,
Ela juntou-se às mais... irmã
traidora
Qual de José os vis irmãos outrora
Venderam seu irmão.
É curioso que, na contradição
racista, o fato de Jesus Cristo ter sido escondido no continente africano e
passar a habitá-lo não faz do continente berço da cultura mais elevada (também
Belém de Judá, onde Jesus nasceu, era considerada, antes da construção do Canal
de Suez, parte da região da África). Jesus, que passou despercebido em meio aos
egípcios por ter tonalidade de pele igual, depois de morto teve seu ícone
embranquecido pelos europeus para assim ser veículo de propagação da ideologia
branca. No poema a voz d’África diz que o “sangue não lavou a mancha original”.
Se se considera a mancha original a tal mentira eurocêntrica que, depois de dar
interpretação bíblica para o racismo, também mentiu ao esconder que enaltecia
um negro como seu salvador, é a ancestralidade africana que fala; se se considera
a mancha original o corpo negro de Cristo que através da morte livrou o homem
negro da escravidão, quem fala pode ter pele negra, mas usa a mesma máscara
branca que fez com que Cristo se tornasse branco. Se a segunda opção é
repudiada pela ancestralidade africana, que condena a mentira, a primeira traz
a sua integridade étnica, como mostra Hampaté Bâ:
“O sangue simboliza aqui a força
vital interior, cuja harmonia é perturbada pela mentira. “Aquele que corrompe
sua palavra, corrompe a si próprio”, diz o adágio. Quando alguém pensa uma
coisa e diz outra, separa-se de si mesmo. Rompe a unidade sagrada, reflexo da
unidade cósmica, criando desarmonia dentro e ao redor de si” (BÂ, 2010, 174).
Dessa maneira, o eu-lírico, o
continente africano, resiste, preservando sua etnia e assim sua força
mobilizadora, discorrendo, por outras palavras, que o eurocentrismo, com sua
ideologia colonizadora, racista, só serviu para fazer dos filhos da África
colonizados “alimária do universo” e da África “pasto universal”. Frente a esse
Espírito absoluto, não é exagero a voz d’África que “há dois mil anos manda seu
grito”.
Referências:
BÂ, Amadou Hampaté. A tradição viva. In: KI-ZERBO, Joseph. História geral da África: metodologia e pré-história da África, v. 1. Brasília: UNESCOp. 167-212, 2010,
BÂ, Amadou Hampaté. A tradição viva. In: KI-ZERBO, Joseph. História geral da África: metodologia e pré-história da África, v. 1. Brasília: UNESCOp. 167-212, 2010,
CUNHA Junior, Henrique. Ntu. In: Revista Espaço Acadêmico, n.108, p.81-92, maio de 2010. Disponível aqui. Acesso em: 8 mar. 2021.
FANON, Frantz. Pele negra,
máscaras brancas. Tradução de Renato da Silveira. Salvador: EDUFBA, 2008.
HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. A
Razão na história: uma introdução geral à filosofia da história. Tradução
de Beatriz Sidou. 2 ed. São Paulo: Centauro, 2001.
LEITE, Fábio. Valores
civilizatórios em sociedades negro-africanas. In: África: Revista do Centro
de Estudos Africanos. USP, São Paulo, n.18-19, 1995-1996, p.103-118, Disponível aqui. Acesso em: 8 mar. 2021.
OLIVEIRA, Eduardo de. Epistemologia
da ancestralidade. In: Filosofia africana. Disponível aqui. Acesso em: 8 mar. 2021.
PEIXOTO, Afrânio. Castro Alves,
o poeta e o poema. 2 ed. São Paulo; Rio de Janeiro; Recife; Porto Alegre: Companhia
Editora Nacional, 1942.
SILVA, Hernani Francisco da Silva.
Cinco evidências que Jesus não era branco. In: Afrokut, 26 de abril, de
2016. Disponível aqui.
SILVA, Rodrigo Ferreira da. África, travessia e liberdade: uma viagem historiográfica pela poesia de Castro Alves (1863-1870). Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa, 2017.

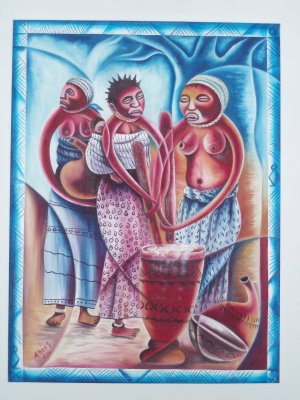





Comentários