A renúncia como obra de arte
Por Alejandro Badillo
Para o escritor, deixar uma página
em branco é uma tragédia. A hiperprodutividade deste século privilegia a
progressão e a finalização. A desistência parece um estado de espírito em
extinção, algo vergonhoso. Isso foi expresso, talvez intuitivamente, por Herman
Melville em seu conto “Bartleby, o escrivão”. Na história, o funcionário
recém-contratado leva a recusa, o não-fazer, até o último limite. No jovem
capitalismo estadunidense ― não podemos esquecer que o título do conto inclui como
subtítulo “Uma história de Wall Street” ― era revolucionário e perigoso não se
inserir no aparelho produtivo. Parar o ciclo de produção e consumo capitalista
não pela destruição de máquinas, como os luditas fizeram no século XIX, mas
pela inação parece um cenário próximo aos nossos tempos, especialmente após o
surgimento da Covid-19 e a desaceleração da economia mundial por vários meses.
Na narrativa, abortar a
possibilidade de concluir uma história pode ser, muitas vezes, um avanço. A
reflexão que nos obriga a dar um passo atrás faz da escrita um processo
artesanal, longe dos sistemas de produção em massa que fabricam quase tudo o
que consumimos. Escrever à mão, por exemplo, exige que você configure o que
quer dizer com antecedência e depois inicie um movimento, um impulso nervoso
que só cessa quando você precisa colocar em ordem uma nova frase. Na era
industrial, com o advento das máquinas de escrever no final do século XIX, a
escrita tornou-se impessoal e mecânica. Imprimir palavras em um piscar de
olhos, portanto, tem um caráter mais definitivo. No entanto, há também o risco
de esgotar o pensamento naquela área aparentemente uniforme.
O autor estadunidense Henry Miller
relata que digitar em sua máquina de escrever, bater as teclas febrilmente,
lembra uma luta de boxe. Mesmo às vezes o golpe pode te deixar vazio e o
agressor fica no meio do ringue sem saber o que dizer, para onde ir. Quase não sente
aquela dúvida, baixar os braços, desistir, são elementos valiosos porque o
obrigam a imobilizar as mãos e olhar o que está à sua frente como se fosse obra
de um estranho. Hoje a história continua correndo na mente do escritor enquanto
a tela permanece em branco, como uma superfície estéril. A recusa em seguir é
apenas a ponta do iceberg porque, submerso, submerso na doçura dos dias, está
se formando uma ideia, uma frase que aparecerá a qualquer momento e que será a
origem de outras.
A renúncia na arte,
particularmente na literatura, tem vários disfarces. Um deles é a digressão.
Este recurso ― um incômodo para alguns leitores ― é um elemento problemático
para quem espera uma história sem lacunas ou dúvidas. A digressão é,
simplesmente, uma negação disfarçada: são passos que vão e vêm, dão voltas, regressam
ao ponto de partida para tentar um novo desvio ou fuga. Como o silêncio não é
uma opção, como algo tem que ser feito, surge a tagarelice que foge da
coerência e se refugia em frases que se contradizem, se sobrepõem ou dizem as
mesmas coisas.
O autor austríaco Thomas Bernhard
é, talvez, um dos maiores arquitetos desse procedimento. Sua renúncia ocorre em
dois níveis: a dolorosa certeza de que a linguagem é insuficiente para contar qualquer
coisa e a fala alucinada dos personagens que significa, para quem sabe ver, a
impossibilidade de seguir em frente. Todos os cenários que o autor descreve são
determinados por objetos, plantas ou mesmo edifícios que foram abandonados. Em Correção,
um de seus romances mais famosos publicado em 1976, o personagem principal
reconstrói febrilmente e sem sucesso os planos de um certo Roithamer de erguer
um prédio em forma de cone no meio da floresta. Você nunca sabe, com certeza, a
funcionalidade ou objetivo do projeto. O não uso, a não utilidade, é também
outra forma de renúncia.
Há casos em que uma obra nunca se
realiza, mas, milagrosamente, é levada adiante graças justamente à recusa.
Refiro-me especificamente ao caso de Joe Gould, um morador de rua de Nova York
que provavelmente era a ovelha negra de uma família rica. O homem, para ser
mais preciso, formado em Harvard, se dedicou a pedir ajuda à elite boêmia da
cidade na década de 1940. Seu motivo de vida era a construção de uma história
oral de Nova York, uma obra, segundo ele, muito volumosa, que compilou centenas
ou milhares de entrevistas e conversas que ele teve com pessoas da cidade. O
personagem pitoresco foi o tema de uma famosa crônica de Joseph Mitchell, um
dos principais colunistas da The New Yorker na época. Os dois
desenvolveram uma estranha amizade, pois Mitchell deu-lhe dinheiro na esperança
de aprender mais sobre seu ambicioso projeto e quase o manteve por longos
períodos. No entanto, quando ele quis mais informações sobre a história oral,
Gould era sempre evasivo, mesmo com a possibilidade de, graças a Mitchell,
alguma editora famosa publicasse sua obra.
Depois de um tempo, o cronista
percebeu que a obra não existia. A única coisa que ele tinha era uma série de
folhas surradas que ele constantemente reescrevia com duas ou três anedotas de
sua juventude que iam entre a memória e a implausibilidade. Quando Mitchell
confrontou Gould para lhe dizer a verdade, ele entendeu, como numa epifania,
que a obra era a pessoa à sua frente: a renúncia à escrita, o fracasso
personificado no cotidiano de um vagabundo, era a proposta artística, a única
realidade. Anos depois, Mitchell publicou O segredo de Joe Gould,
uma crônica que recupera a vida do clochard nova-iorquino. Curiosamente,
após ter consolidado sua carreira com essa história, Mitchell sofreu uma
espécie de bloqueio criativo que o acompanhou até sua morte em 1996. O
cronista, uma inspiração para muitos, não parava de ir ao prédio da The New
Yorker; no entanto, a partir de 1964, não produziu um único texto. Ele
sempre recebeu seu salário.
Imagino Mitchell, trancado em seu
escritório, sozinho, sem atender uma única ligação. Talvez tenha tentado
escrever uma história. Em sua mesa há dezenas de anotações, folhas de papel
rasgadas e arrumadas à sua frente. Talvez não haja nada e o escritor se limite
a observar, pela janela, uma cidade que narrou quase rua a rua e que agora, no
final do século XX, perdeu para ele a relevância. Suas crônicas, cheias de
nostalgia, tentam deter o tempo e às vezes conseguem, quando lemos a descrição
pontual de uma taberna e seus frequentadores ou os truques dos ciganos nova-iorquinos
para enganar qualquer passante desprevenido. Mitchell perdeu a relação que
tinha com a cidade grande e, por isso, decidiu se calar. A resignação, por
vezes, mantém a memória mais viva e isso, no fundo, é outra forma de arte.
* Este texto é a tradução de “La
renuncia como obra de arte”, publicado aqui em Confabulario.
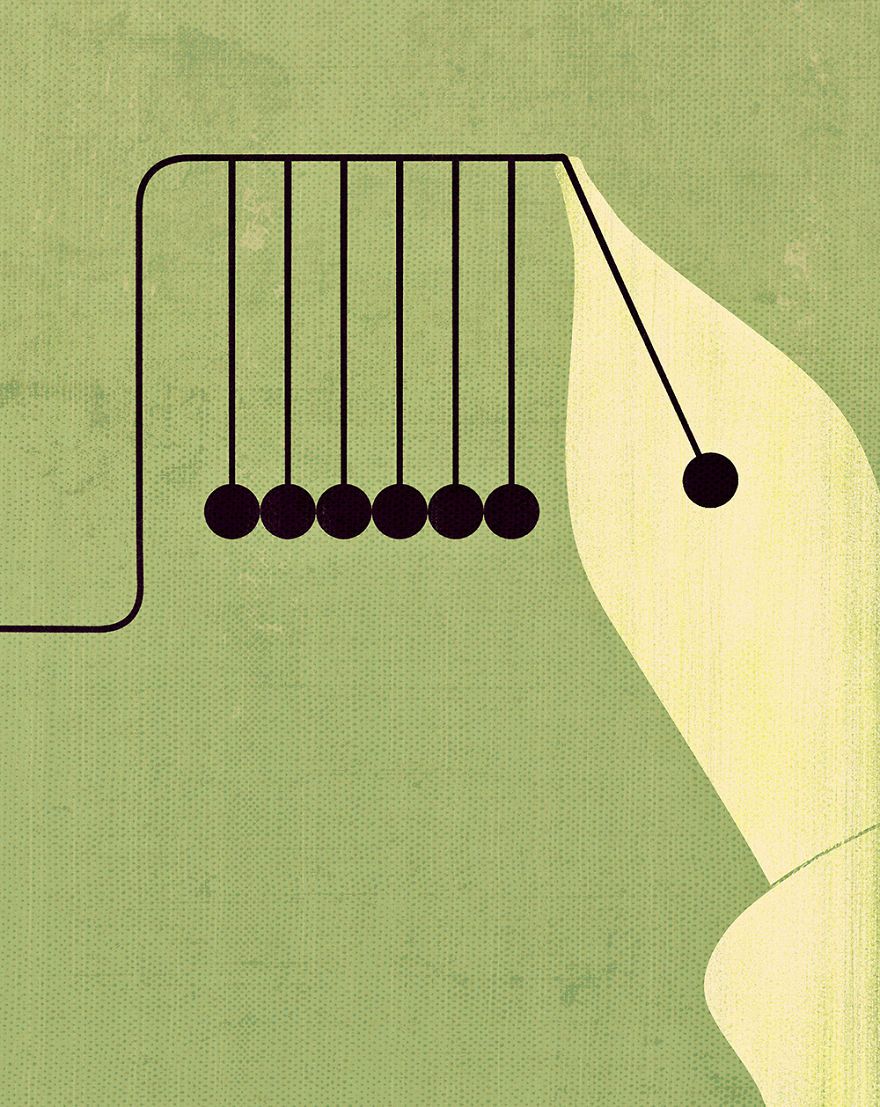






Comentários