O moderno
Por Enrique Vila-Matas
 |
| Charles Baudelaire por Augusto Brouet |
“É preciso
ser absolutamente moderno”, disse Rimbaud. E um século e meio depois ainda sofremos
as consequências. Essa frase, além de intimidadora, comenta Calasso em La Folie Baudelaire, fez inumeráveis
vítimas, numerosos “escritores quase sempre medíocres, mas totalmente decididos,
como tal a seguir o slogan que os
havia cegado”.
Nos últimos
tempos recebemos constantemente notícias de pessoas que não sabem que é inútil dizer que são inovadoras, porque a longo prazo, se são revolucionárias ou tecnoplásticas, serão julgadas pelo tribunal digital do tempo, sempre implacável. Charles Dickens ou Franz Kafka nunca presumiram mudar a história
da literatura – nem a história de nada – e sem dúvida a mudaram. É uma prova de
que para transformá-la não é necessário dar o último grito. O futurista Julien
Gaul presumiu colocar tudo de pernas para o ar e hoje ninguém tem notícias
dele. Se minha geração viu morrer Thomas Bernhard, alguns setores da seguinte vão
a caminho de asfixiar-se de tanta presunção, inércia e opacidade do mundo que se
adere à escrita de seus comparsas teóricos do novo.
Em seu
momento, apenas Baudelaire esteve à altura das circunstâncias e talvez por isso
hoje é o único moderno que não nos parece antiquado. Brummel nos ensinou que o
ponto alto da elegância é a “simplicidade absoluta”. E Baudelaire que alcança o
limite máximo da modernidade não sendo moderno e limitando-se ainda a baldear o
movimento interno do mundo em que vive, embora reconhecendo nele uma “utilidade
misteriosa”.
Assim, a
revolução de Baudelaire, sugere Calasso, foi de caráter “conservador”. Baudelaire
havia lido Joseph de Maistre e Chateaubriand e com eles aprendeu, como escreveu
Christopher Domínguez Micahel, “o segredo da inovação anacrônica, a capacidade
de traduzir aquilo que parece provir de uma língua morta”. Sim, mentalmente,
foi mais fiel ao pintor Ingres e à Idade Média que ao romântico Delacroix. E não
pode se dizer que teorizara muito sobre a modernidade, mas buscou averiguar melhor
sua essência, isolá-la como se um elemento químico, registrar o peculiar, incessante
bramido nervoso que desde sempre a corroía e exaltava. Não a lenda dos séculos,
mas a lenda do instante, em sua volatilidade e precariedade; a lenda de um presente
que percebia que cada vez comunicava mais com a decadência e o vazio. E no
vazio, já se sabe, sempre acaba encontrando-se com algum célebre desconhecido. Um
dia, mostraram a Baudelaire um objeto africano, uma pequena cabeça monstruosa talhada
num tronco de madeira por um pobre negro. “É realmente feia”, disse alguém. “Cuidado!”,
disse ele, inquieto. “Poderia ser o verdadeiro Deus!”
Na última página
de La Folie Baudelaire, na descrição
de um instante, Calasso parece adiantar o segredo da “inovação anacrônica” e a abaladora
e verdadeira índole do moderno: “O rumor contínuo dos troncos caindo sobre o calçado
dos pátios. Eram descarregados das carretas, casa por casa, ante a iminência do
frio. A lenha cai no chão e anuncia o inverno. Baudelaire assiste. Não tem necessidade
de nenhuma outra coisa que não seja esse som, surdo, repetido...”.
Quase ouvimos
aí, misturada com a queda abafada da lenha, a laboriosa respiração do poeta
ante o inverno. Baudelaire assiste e se prepara para escrever – com o nervo de
sua elegante simplicidade absoluta – uns versos que hoje são lendários, mas também
– por pertencer a nosso odioso e patético presente – o mais moderno que alguém
pode ler nestes dias em que comprovamos que nada é novo e tudo se repete tragicamente
no incessante bramido que nos exalta desde sempre: “Fremente escuto cada tronco que
desaba; O cadafalso não tem um mais surdo ronco.”
* Este texto
é a tradução de “Lo moderno”, publicado no jornal El País.
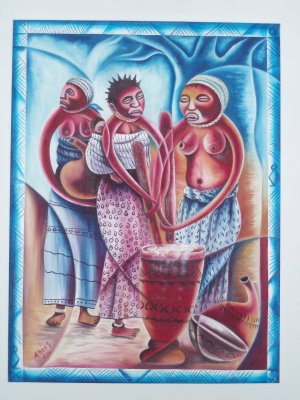





Comentários