Jornais e romances: um caso aberto
Por Juan Luis Cebrián
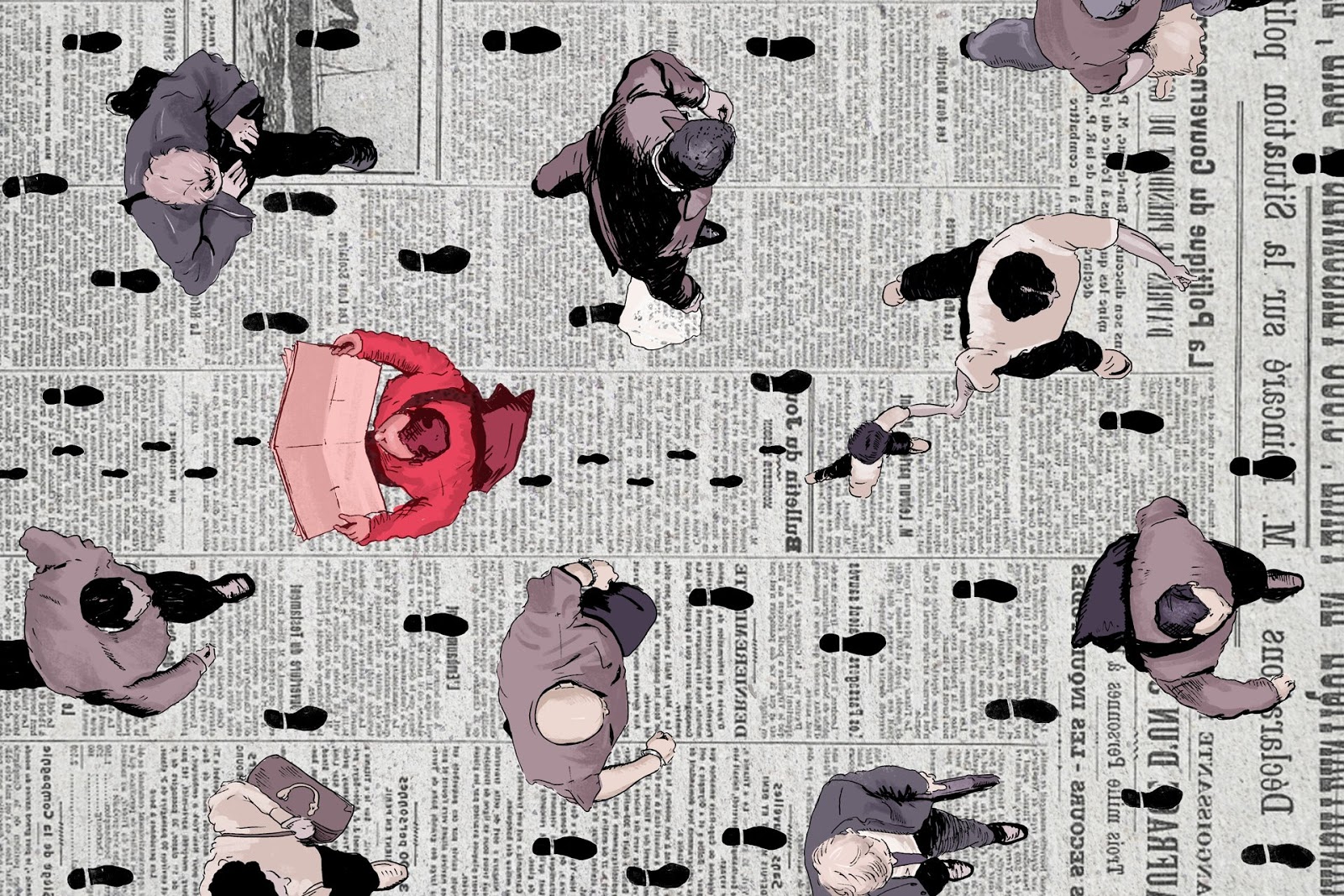
Foi Nélia
Piñon quem, durante um debate em Buenos Aires sobre a grande confusão entre ficção
e realidade, confessou seu interesse por averiguar as implicações literárias da
pós-verdade. As fronteiras entre o romance e o jornalismo parecem muitas vezes confusas
e pelo menos desde Charles Dickens aos
nossos dias foram dinamitadas em numerosas ocasiões. A partir desse ponto de
vista poderia admitir-se inclusive que as pós-verdades que inundam agora o meio
ambiente contribuem para a qualidade da literatura tanto ou mais que a destruição
da opinião pública numa democracia. E direi depois a assertiva de que a meu ver
não estamos falando apenas de notícias falsas, mas sobretudo de verdades
subjetivas; isto é, aquelas sobre as quais se acredita tanto que sempre são invocadas
como se as escutássemos.
Dois livros
assinados por dois grandes escritores que também foram jornalistas
profissionais são atuais na polêmica em torno destas questões e nos demonstra,
outra vez, que o jornalismo escrito foi, é e continuará sendo um gênero literário.
Um é O escândalo do século [tradução
livre de El escándalo del siglo], uma
antologia que reúne trabalhos de Gabriel García Márquez apresentados em jornais
e em revistas entre os anos 1950 e 1984. O outro é o excelente Viagem à Rússia [Viaje a Rusia] escrito em 1925. Ambos são exemplos da ambiguidade
dos gêneros literários e, de uma forma ou de outra, demonstração de que o tão
afamado realismo mágico atribuído a Gabo era em grande medida seco realismo, levando
em conta as surpresas, os paradoxos e as descobertas, verdadeiras invenções no
sentido etimológico da palavra, que a realidade nos apresenta todos os dias.
O título do
livro de Gabo é emprestado de uma série de reportagens que escreveu a partir de
Roma em 1955 sobre o assassinato da jovem Wilma Montesi e que foi publicada em El Espectador, da Colômbia. Este acontecimento
ocupou a primeira página dos jornais de todo o mundo e inspirou Fellini ao
redigir o roteiro de La dolce vita, um
filme mítico na história do cinema que marcou o fim do neorrealismo. As treze crônicas
sobre o caso escritas por García Márquez, coincidindo com o julgamento a que
foram submetidos os acusados do crime, o filho de um ex-primeiro ministro e um
representante da nobreza italiana, constituem a dorsal deste livro. Seu editor,
Cristóbal Pera, reconhece “ter escolhido textos em que aparece latente essa tensão
narrativa entre jornalismo e literatura, onde as costuras da realidade se
estiram por sua impossibilidade de conter o impulso narrativo”.
O caso Montesi
ficou famoso porque desde quando encontraram o cadáver da jovem abandonado numa
praia as autoridades policiais e judiciais trataram de ocultar o acontecido,
sugerindo que se tratava de um acidente ou de um suicídio. Só a pressão da
imprensa obrigou a se realizar um inquérito judicial a respeito. Das investigações
soubemos que o noivo da vítima recebeu um telegrama assegurando que esta havia se
matado quando todavia se encontrava viva, mas o investigador foi incapaz de
estabelecer o que havia se passado nas últimas 24 horas de sua existência. “É possível”,
escreve o correspondente de El Espectador
Gabriel García Márquez, “que no mês que entra, durante as audiências, se conheça
o outro lado deste mistério. Mas também é muito provável que não se conheça nunca”.
Toda uma premonição: ninguém foi condenado em juízo e ainda hoje se desconhece
os pormenores do caso. Alguns compararam aqueles envios ao jornal colombiano com
a estrutura de Crônica de uma morte anunciada
que o escritor Prêmio Nobel escreveu anos mais tarde. Isso porque, a abertura
da história em sua primeira crônica marca o limiar da intriga antes de
informamo-nos o núcleo da notícia: “Na noite de quinta-feira 9 de abril de 1953,
o carpinteiro Rodolfo Montesi esperava em sua casa o retorno de sua filha Wilma”.
E a premonição do autor nos cabeçalhos da reportagem se consumou em decrescente:
“Morta, Wilma Montesi, passeia pelo mundo”.
García Márquez
andou mais de dois anos pela Europa escrevendo para El Espectador. Mas o cinema lhe atraía mais que a literatura como profissão
e sua escassez de recursos econômicos o obrigou a complementar sua renda com
outros trabalhos como o de tocar violão nas ruas de Paris ou trabalhar como
ajudante de cozinheiro num restaurante. Por sua vez, para que Josep Pla pudesse
narrar o despertar da revolução na Rússia soviética em 1925, seus amigos do
Ateneu barcelonês decidiram custear os gastos, os que não podiam ser contemplados
por La Publicitat, o jornal para o
qual enviaria suas crônicas. Pla era então um jovem jornalista que segundo sua própria
confissão não sabia absolutamente nada da Rússia. Tampouco se mostrou muito
motivado para fazer a viagem quando lhe comunicaram do trabalho. Mas, finalmente se
viu obrigado a aceitá-lo devido a insistência dos amigos, que não apenas proporcionaram
a ele os meios econômicos como também a obtenção do visto, o transporte e as
pessoas que deveriam escoltá-lo e ajudá-lo com a visita.
A visita de Pla se deu pouco depois da morte
de Lênin e em pleno desenvolvimento da Nova Política Econômica. Chama a atenção
a ingenuidade que subjaz em algumas de suas observações sobre a Moscou da época,
como o fato de que todo mundo se vestia mais ou menos da mesma forma, numa espécie
de uniformidade civil, ou a afirmação de que, o que se estava construindo, era
simplesmente uma nação sem ricos. O autor, além disso, insiste em economizar opiniões
e limita-se a descrever as situações como ele as vê, embora seu ponto de vista
era quando muito pessoal. Participava, por um lado, da benevolência que a revolução
soviética despertou nos intelectuais do Ocidente no seu início, e, de outro, de
seu inegável sentimento conservador. Mas preferiu não expressar os juízos que só tornou
explícitos, por sua vez, quarenta anos mais tarde, quando decidiu reeditar a
obra. Permitiu-se comentar assim: “Quando Nin me apresentou a Karl Ráder, que
então dirigia Pravda, nem sequer
ousei dizer-lhe que o célebre ideólogo [...] me pareceu um sapo insípido e
insone, sujo, de uma miopia incômoda, agravada por uma amarelamento da pele ácida
e frenética e um hirsutismo capilar que contrastava com o fato de que era carente
de barba e demonstrava uma maneira de apresentar excessiva – porque havia que
ser muito comunista para manifestar aquela abundância de pêlo”. O expressionismo
desta descrição foi furtado aos leitores de La
Publicitat e é um bom exemplo de como se chegam a ultrapassar com
brilhantismo as fronteiras entre o jornalismo e a literatura. Nin, referido por
Pla, era Andreu Nin, fundador do Partido Trabalhista de Unificação Marxista, cuja
morte pelas mãos dos capangas de Stálin continua envolta num mistério tão
grande como a de Wilma Montesi.
Mas o fato
de que a pós-verdade e as fake news podem
contribuir para a beleza da invenção literária (“não deixes que a realidade estrague
uma boa reportagem”) não diminui os riscos para a formação da opinião pública nas
democracias, atualmente um panorama inundado de falácias e acontecimentos
alternativos. Essa é certamente a mensagem do último livro de Alan Rusbridger,
que foi o mítico diretor do The Guardian:
Breakin news, the remaking of journalism.
Salpicada de anedotas e recordações, a obra nasce de um novo debate fundamental
sobre o futuro da mídia num ambiente dominado pelas redes sociais. Evocando Hannah
Arendt, cita uma memorável frase sua: “O resultado de uma substituição
consistente e total das mentiras pela verdade factual não é que a mentira será
agora aceita como verdade e verdades sejam difamadas como mentiras, mas o
sentido pelo qual nos orientamos no mundo real – e a categoria da verdade
versus falsidade está entre os meios mentais para este fim – está sendo
destruído”. A conclusão de Rusbridger é sensível: “Acredite em mim, não queremos
um mundo sem informação”. Tampouco sem literatura.
* Este texto é a tradução de "Noticias y novelas: caso abierto", publicado no jornal El País.






Comentários