Frantumaglia, de Elena Ferrante
Por Pedro
Fernandes
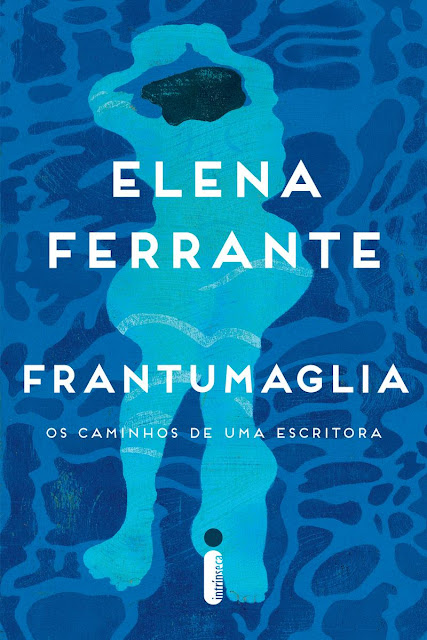
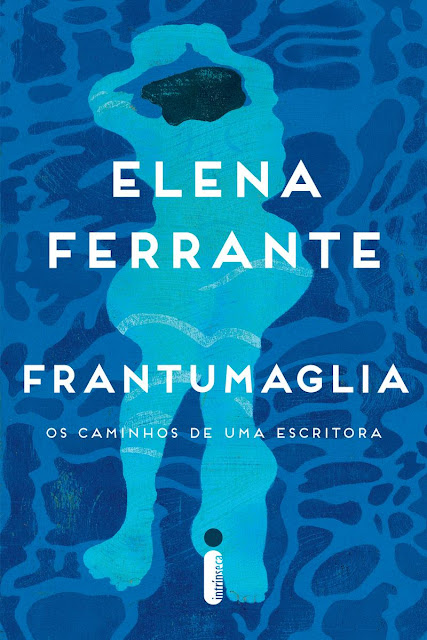
Em “A frantumaglia”,
texto que antecede a existência dessa coletânea, Elena Ferrante
estabelece algumas definições de um termo que remonta
a fala de sua mãe e emprega para justificar a condição existencial de
suas personagens, sobretudo as dos seus dois primeiros romances, Um amor
incômodo (1992) e Dias de abandono (2002); dentre elas, uma
parece justificar o título dessa obra: “é uma paisagem instável,
uma massa aérea ou aquática de destroços infinitos que se
revelam ao eu, brutalmente, como sua verdadeira e única
interioridade”. Tal revelação, por natureza
caleidoscópica e heteróclita, produz em que aparece tomado
de frantumaglia uma sensação de vertigem, náusea, desnorteamento
dos sentidos, o que recobram do indivíduo uma necessidade de recuperar um
estágio fundamental ao não perecimento, a vigilância sobre si.
Ao que
parece, frantumaglia é um jogo de elucubração exclusivamente
feminino, embora a escritora italiana não deixe de sublinhar noutra
ocasião de suas intervenções haver rompido com o que se determina
enquanto sentido de mulher e sentido de homem. A indistinção, entretanto,
não imiscui – e o seu leitor bem sabe – que há maneiras diversas
de compreender o mundo interior e exterior e essa variedade é em
parte uma constituição marcadamente pela diversidade cultural
que orientam os sentidos dos seus preceptores. Numa cultura
que sempre tratou de maneira distinta mulheres e homens, estes sobrepondo-se
aquelas, elas desenvolveram instintivamente outras maneiras de sentir e de
perceber inacessíveis a eles. Certamente mais ricas. Mas, a
quantidade de ideias que circulam como poeira de uma complexa
galáxia, causa nos leitores uma parte desse estar obnubilado que em
parte determina o estar em frantumaglia.
O texto
que nomeia a coletânea é o mais desenvolvido e oferece um
amplo retrato sobre a galáxia Ferrante: sabemos não apenas o
que determinam os sentidos de Delia
e Olga; como quais são aqueles que interessam à romancista (a
relação entre mães e filhas e vice-versa, a relação feminina com um
mundo propositalmente fabricado por homens, a relação dessas
mulheres consigo, com as outras, com
o corpo etc.); sua obsessão pelas cidades, Nápoles e
Turim; pela indumentária das mulheres. Isto é, nos é oferecida uma
projeção riquíssima para observar melhor a escrita e as criações da
escritora italiana.
Mas, o que
se descreve como “sua verdadeira e única interioridade” é
apenas outra maneira de a escritora ficcionalizar sobre si e sobre seu
universo. Não reside nessa constatação uma acusação de
falseamento; é, antes a compreensão que parece ser, inclusive,
determinante ao fazer literário da própria Elena Ferrante: isto é, a
escrita, pela impossibilidade de revelar a verdadeira ordem
das coisas, é uma camada que reinventa o todo
existente ao ponto de se constituir verdade autônoma entre as
verdades. Há uma ocasião quando um jornalista pede à escritora que se
possível descreva a si mesma e ela se recusa a fazê-lo negando uma
afirmativa de Italo Calvino, para quem, toda vez que este tema se
infiltrava numa conversa com jornalistas, preferia inventar,
dizer falso de si, o que ela, Ferrante, prefere
não seguir. Não que a lição seja vã, mas se sente
responsável por uma necessária verdade do eu e pela
impossibilidade de se sentir à vontade em falsear apenas para
satisfazer certa curiosidade usual de todos.
Quer dizer, o falsear não está no ato em si – uma necessidade que ela
própria assim expressa noutra ocasião: “Para tolerar a
existência, mentimos, sobretudo a nós mesmos. Às vezes contamos belas
fábulas, às vezes dizemos mentiras mesquinhas. As mentiras protegem, atenuam a
dor, permitem que evitemos o susto de refletir seriamente, diluem os horrores
do nosso tempo, salvam-nos até de nós mesmos”. O danoso do falsear reside
na consciência de que falseio. À medida que o faço
para justificar ou estabelecer no caos uma ordem que me
previna perecimento, falsear é uma necessidade. A escrita,
portanto, essa dupla camada que se derrama ora por entre, ora por sobre a
realidade, renovando-a, realinhando-a reside nesse território positivo da
mentira. Logo, o que Ferrante ensaia nesses textos é tão somente
a construção de uma complexa argamassa capaz
de sustentar o castelo que constrói com palavras e
imaginação, obra que preserva de toda maneira dos atentados que
os olhares lascivos podem provocar.
Parece que é
o tônus que alimenta toda e qualquer conversa que os
entrevistadores tentam com a escritora: captar alguma coisa
que os façam acumular peças capazes de, qual o jornalista
que produziu o seu curto tempo de fama, dizer qual a verdadeira
identidade de Ferrante. Suas respostas são muito coerentes e
inaugura uma necessidade que certamente já existiu com outras condições
do escritor recluso: o direito ao anonimato. Sobretudo porque vivemos
numa sociedade sedenta pela imagem, uma sociedade cada vez mais presa
à ordem das sombras, para citar o mito da caverna de
Platão. “Acredito que, após terem sido escritos, os livros não precisam
dos autores para nada. Se tiverem algo a dizer, encontrarão, mais cedo ou
mais tarde, leitores; caso contrário, não”, sublinha numa
ocasião. “Acho que a boa notícia sempre é: saiu um livro que vale a pena
ler. Acho também que os verdadeiros leitores e leitoras não se importam
nem um pouco com que o escreveu. Acho que os leitores de um bom livro
esperam no máximo que o autor de um bom livro continue a
trabalhar com consciência de produzir outros bons livros”,
sustenta noutro momento. “O verdadeiro leitor, a meu ver, não
procura o rosto frágil da autora em carne e osso que se embeleza para
a ocasião, mas a fisionomia nua que permanece em cada palavra
eficaz”.
Assim,
quando diz se assumir mais autêntica nas intervenções públicas,
Ferrante parece dizer que nelas se mostra melhor porque nelas se
revelam as peças que constituem seu universo pessoal (o que pensa, as
leituras, os temas que de seu interesse) uma vez na ficção
seu estilo se constitui por se aproximar tanto das
vivências suas e alheias ao ponto delas se
constituírem situações puramente ficcionais e não presas ao
seu tempo e seu lugar de produção. Entretanto, o que se mostra é
apenas uma pálida imagem, fantasmagórica e múltipla. Afinal, o eu que
escreve é uma projeção ideal, e essa condição não estaria
apagada se tivéssemos acesso à imagem de quem fala.
O
que em parte está em questão é a impossibilidade de acesso à
autenticidade do eu ou mesmo uma tentativa de construção de um
eu cujo todo se mostre em melhor condição uma vez ser a escrita
algum sustentáculo à inapreensibilidade. E Ferrante problematiza
isso claramente ao preferir apenas a escrita o meio pelo qual
prefere se manifestar; essa provocação é uma recusa da
própria lógica assumida pelo mercado capital que aos poucos tem
substituído a escrita e apagado o literário em nome da exposição excessiva
do artista. Isso nos aproxima e muito de alguns fenômenos
contemporâneos apresentados na história recente da nossa literatura, quando um
possível nome porque publicado por uma importante editora
preenche inteiramente as páginas de toda imprensa comum
nacional enquanto as qualidades da escrita sequer
aparecem ou são apenas massivamente repetidas no mesmo tom vazio
do autor-revelação. “Não digo que é errado trabalhar dessa maneira,
os caminhos para um bom livro são infinitos. Mas não é o meu modo de ver o
processo criativo”, alerta-nos Ferrante. Ainda que não
negue claramente as imposições do mercado, porque sua
atitude já o faz suficientemente, essa mesma
atitude cobra de nós certo cuidado para o que
vende o mass midia. Essencialmente o que nos oferece a
todo custo destoa da natureza do literário.
O melhor dos
textos de Frantumaglia é a negação do epíteto forjado por este mesmo
mercado sedento pela imagem. Ao se corresponder com a imprensa –
e neste 2018 Ferrante passou a assinar uma coluna semanal
no Guardian – e com os seus leitores sabemos logo que a
ideia de reclusão não serve de justificativa sobre a
escritora italiana. Recluso seria o escritor cuja presença é
notada apenas pelos livros que escreve; Frantumaglia prova que
não é o caso de Elena Ferrante. “Os leitores, se quiserem, podem
escrever à editora. Fico feliz com isso. Respondo mais ou menos
pontualmente”, responde a um jornalista. Está em cena, portanto,
uma escritora que decidiu ser unicamente – ao menos até a essa altura –
produto verbal.
Além da
longa entrevista convertida em ensaio que dá nome ao livro e de outras
entrevistas apresentadas depois da publicação de seus dois primeiros
romances, há outros encontros intimistas propiciados por este
livro que propositalmente se oferece em negação a um
designativo que tende reduzir o perfil da escritora: cartas redigidas
enviadas e não enviadas, excertos não incluídos nos seus dois primeiros
romances, contos – um trânsito original e determinante
para o funcionamento do universo Ferrante que se mostra ao alcance do
leitor, como fôssemos instado à casa de máquinas da ficção pelos
mecanismos que a enformam, a palavra escrita.
Elena
Ferrante novamente mostra o quanto as fronteiras que se constroem
entre o eu e suas criações são apenas convenções. A escrita é lugar
onde convergem os dois rios que constituem existir: o das
vivências físicas e o das experimentadas pela dimensão
imaginária, indispensável. “A via biográfica não leva à genialidade de uma
obra, é apenas uma micro-história que acompanha”. Rico
experimento na era da imagem. Frantumaglia nos aproxima e
simultaneamente nos embaça ainda uma existência que se
tem feita de tinta e papel. Pode não parecer, mas é
mesmo o suficiente para a existência de uma obra.
Ligações a esta post:
>>> Elena Ferrante, a leitora
Ligações a esta post:
>>> Elena Ferrante, a leitora






Comentários