Escritos nas margens
Por Mireya Hernández
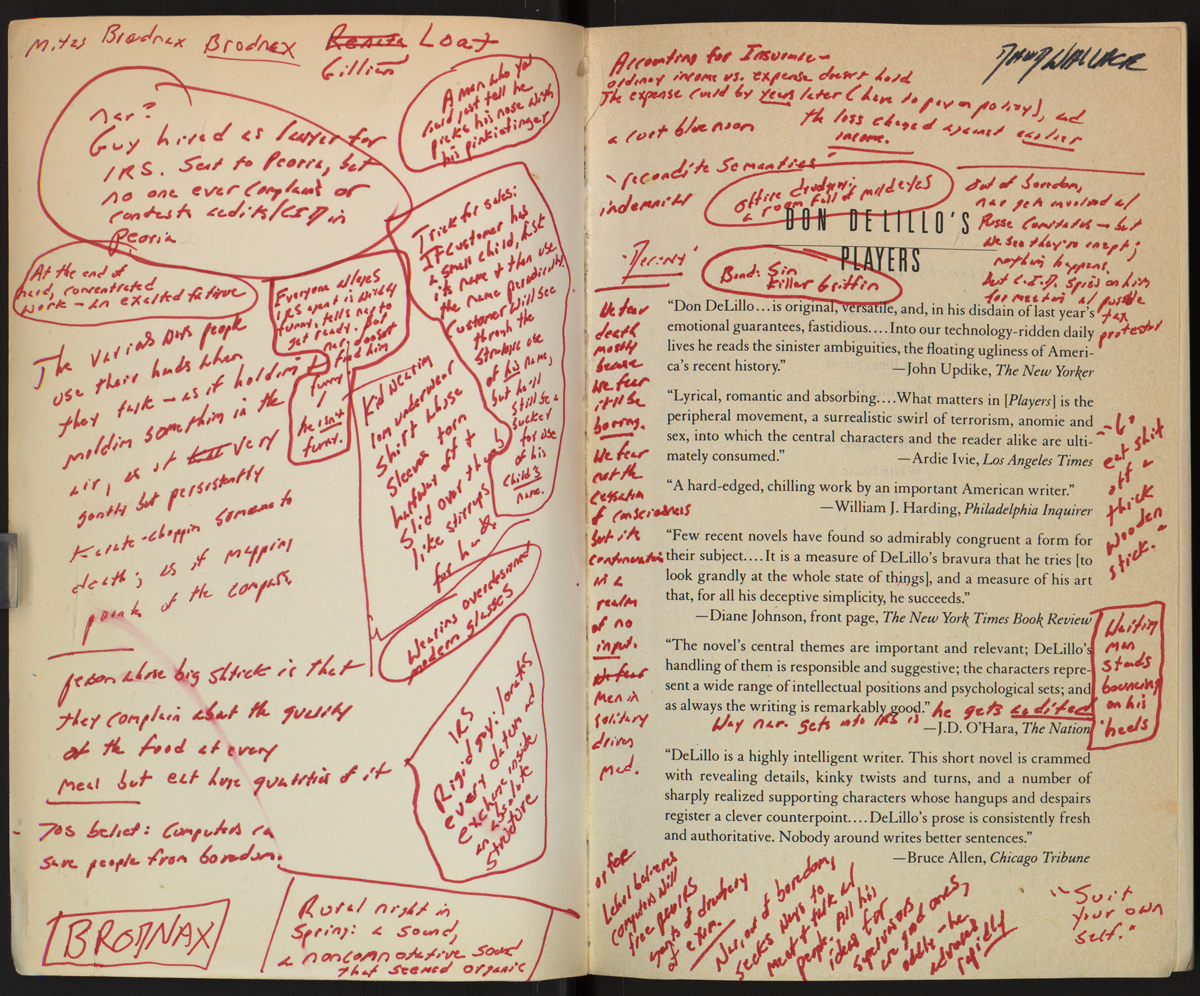 |
| O exemplar de David Foster Wallace de Players, do Don DeLillo |
Quando Nelson
Mandela estava preso na África do Sul, caiu em suas mãos um livro de
Shakespeare que circulava entre os presos e anotou seu nome ao lado de uma
passagem de Júlio César que diz: “Os covardes
morrem muitas vezes antes de sua verdadeira morte”. 260 anos antes, na
Bastilha, um jovem Voltaire estudava literatura e escrevia nas margens das
obras que lia. Os dois tiveram mais sorte que Sir Walter Raleigh, que foi decapitado
em Londres justamente depois de escrever uma declaração no livro que estava
lendo. Em condições mais favoráveis, outros como Milton, Quevedo, Thomas
Jefferson, Darwin, Jane Austen, William Blake, T. S. Eliot ou Northrop Frye, encontraram
consolo ou liberdade nas bordas imaculadas das páginas.
Coleridge,
um apontador compulsivo, chamou este hábito de marginalia. Os comentários do
poeta inglês eram tão famosos que seus amigos lhe emprestava os seus livros só
para recebê-los de volta integralmente marcados. Era um costume que já se praticava
nos textos clássicos do século I a. C. (os chamados escólios) e foi muito comum
na Idade Média (os monges que copiavam manuscritos costumavam preencher as
margens dos pergaminhos de expressões de desgosto e desenhos de coelhos suicidas).
O humor que povoa as margens dos livros pode ser negro como o dos frades
ou um pouco mais divertido como o de Juan Ramón Jiménez ou o de David Foster
Wallace na cópia de seu exemplar de Suttree.
Logo há um humor um pouco sarcástico, como o comentário que faz Sylvia Plath
junto ao fragmento do romance de Fitzgerald em que Gatsby espera na entrada da casa
dos Buchannan enquanto Daisy faz as pazes com seu marido: “O cavaleiro espera
fora, o dragão se deita com a princesa”.
Muitas vezes
a ironia se transforma numa crítica mordaz. Coleridge questionava a qualidade
das metáforas de Robert Southey. Mark Twain, que preenchia páginas inteiras com
suas opiniões e vitupérios, riu-se do inglês “péssimo” de John Dryden e escreveu:
“Um gato faria melhor literatura que esta” num romance de Sarah Grand. O escultor
e cineasta sem cinema Jorge Oteiza dedicou um poema a Octavio Paz no começo de Árbol adentro onde o acusava de não ter
talento e escrever poesia vulgar. David Markson, autor de A amante de Wittgenstein (o romance preferido de Foster Wallace),
escreveu: “Já nos entendemos em páginas anteriores, está começando a ser chato”
nas margens de Ruído branco de Don
DeLillo, casualmente o segundo romance favorito
do escritor malquisto. A letra pequena de Nabokov costumava traduzir para o
inglês frases singulares ao redor dos parágrafos que não gostava. Numa antologia
do New Yorker qualificou todos os contos
e outorgou a máxima nota a Um dia perfeito
para os peixes-banana, de Salinger, e o seu Colette. A maioria dos autores são mal qualificados, mas não é de estranhar
se tivermos em conta que o escritor e professor de literatura descrevia a obra
de T. S. Eliot e a de Thomas Mann como “de segunda” e “estúpida”, respectivamente.
 |
| cópia das famosas anotações de Nabokov sobre A metamorfose, de Franz Kafka |
Poe, que não
aconselhava ler Dickens nem Hawthrone, dizia em seu ensaio “Marginália” que “as
palavras – sobretudo as impressas – são armas assassinas”. No prólogo dessa mesma
obra, que chegou a ser traduzida por Julio Cortázar, o estadunidense fazia sua
defesa particular dos espaços virgens que rodeiam o texto. É aí, fora dos limites
marcados pela página e o impresso, na periferia do discurso, onde o escritor e
o leitor se encontram. Em seu diálogo silencioso com o livro, o que lê se
revela. É um lugar onde “falamos conosco e, portanto, o fazemos com desenvoltura,
audácia, originalidade, com abandonnément,
sem censuras”, diz Poe. Valéry, que começou a comentar seus próprios textos
sobre Leonardo no interesse de ler o ensaio do estadunidense, não entendeu que
este publicara suas notas em separado e escreveu: “As publicações deste tipo me
fazem imaginar a história do homem cujo trenó é perseguido por uma alcateia de
lobos famintos. Ele joga, para ganhar tempo e espaço, tudo o que leva consigo. Começa
pelo menos valioso”.
Mas não são apenas dardos. Em algumas ocasiões se encontram tesouros como a frase deixada por uma
menina num exemplar de O apanhador no campo
de centeio – “Desculpe as manchas de salada de ovo, mas estou apaixonada” –
ou os apontamentos de Cristóvão Colombo na edição latina de As viagens de Marco Polo, que o almirante usou como caderno de bordo em
sua rota para as Índias. E de vez em quando aparece uma epifania. Na página 227
de um exemplar de Uma semana nos rios Concord
e Merrimack de Henry David Thoreau, que Kerouac havia pegado emprestado de
uma biblioteca municipal em 1949 e nunca havia devolvido, há uma frase
sublinhada a lápis: “O viajante deve voltar a nascer no caminho”.
Quando os
segredos da marginalia são revelados e o privado se converte em público (em
Oxford, Cambridge e Nova York há especialistas que competem por encontrar os
melhores exemplares anotados), começamos a conhecer melhor a pessoa que se esconde
por trás do leitor. É o caso de Graham Greene, um homem muito reservado que nos
permite seguir seu rastro nas margens dos livros que lhe pertenceram, como se pudéssemos
abrir uma janela em sua mente e ver tudo o que se passou por ali ao longo de
sua vida. Algo semelhante também ocorre com Walt Whitman, cujas leituras e
glosas nos mostram como se converteu em escritor. Suas influências, que vão da
retórica clássica à poesia de Tennyson e do misticismo persa à revistas de frenologia
do século XIX, revelam que sua maneira de compor provém de seu hábito de escrever
nas margens. Graças ao seu arquivo, sabemos que não compôs Folhas de relva num arrebatamento de inspiração, mas que transformou
notas que havia tomado previamente em longas frases poéticas. Seus apontamentos
são, como no caso de Coleridge e Valéry, o ponto de partida de sua obra.
Marguerite
Yourcenar dizia que reconstruir a biblioteca de uma pessoa é uma das melhores
formas de recriar seu pensamento. Não parece difícil fazer isso com Foster
Wallace, cuja obsessão pelas anotações pode-se ver em seus exemplares de Cynthia
Ozick, Christina Stead e John Updike. Num espécie de horror vacui de ideias, cifras, garatujas, carinhas sorridentes e post-it, o autor de Graça infinita enriquecia os originais até convertê-los em outra coisa.
Porque nas
margens não há apenas palavras. As vezes há um símbolo ao lado de uma frase ou
um desenho como o que fez Sylvia Plath em seu próprio diário para ilustrar um
pesadelo em que era perseguida por um cachorro quente e uma nuvem de caramelo, ou
as baratas que Nabokov desenhou na primeira página de A metamorfose, ou o homem sentado frente à sua mesa de trabalho de
Kafka, ou as flores que Keats desenhava em seus manuscritos, ou as estranhas
personagens que Samuel Beckett esboçava nos cadernos de Watt, ou as caras deformadas de Proust, os nus do período insone de
Henry Miller, os desenhos hilários de Kurt Vonnegut, os tracejados por Ginsberg
em seus próprios livros, os de Leonardo da Vinci, ou aquele que Bukowski enviou
junto numa carta para uma revista literária, ou o retrato de Borges depois de
ficar cego. Qualquer um desses nos faz mergulhar no inconsciente do que com seu
lápis demonstra aquilo que disse Edmond Jabès: “Que tudo seja branco para que
tudo seja nascimento”.
Ligações a esta post:
* Este texto é uma tradução de Escritura en los márgenes", editado no El cultural






Comentários