A ignorância, de Milan Kundera
Por Christopher Domínguez Michael
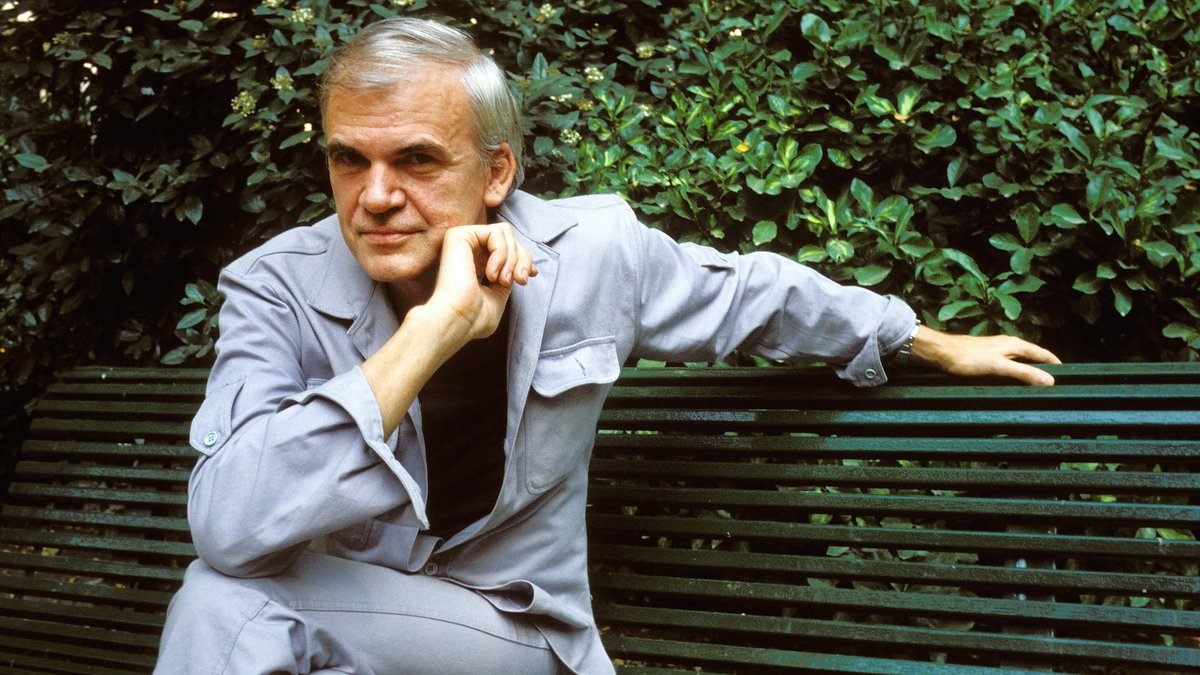
Não sem certa
culpa descobri, ante A ignorância,
que há quinze anos não lia um romance de Milan Kundera. A brincadeira (1967), A vida
está em outro lugar (1973) e O livro
do riso do esquecimento (1978) formam uma trilogia essencial na e sobre a
história contemporânea da Europa. Irei mais longe: Kundera foi decisivo para
que muitos leitores ocidentais rompêssemos as últimas amarras sentimentais e
simbólicas com o universo stalinista. Quando vivíamos à sombra da cinzenta
árvore da ciência, perdíamos o tempo buscando em Trótski, Bruno Rizzi, Charles
Bettelheim ou Rodolf Baho uma iluminação teórica que prometia entender esse
eufemismo chamado “real socialismo”. Kundera, com essa convicção não apenas
brinda a arte do romance, aparece para permitir, às vítimas da ilusão lírica,
o festejo da queda do Muro de Berlim em 1989.
Mas a
história castiga seus profetas. Kundera, nascido na antiga Tchecoslováquia em
1929 e refugiado em Paris desde 1975, olhou de fora a Revolução de Veludo, obra
direta de outra geração, a de Václav Havel, o dramaturgo-presidente.
Entretanto, Kundera continuou publicando ensaios luminosos sobre música e
literatura (A arte do romance, 1986 e
Os testamentos traídos, 1996) e um par
de romances que acrescentavam sua riqueza erótica e intelectual: A insustentável leveza do ser (1985) e A imortalidade (1990).
Quando
Alexander Dubcek morreu, em 1992, o rosto humano da Primavera de Praga, muitos
se perguntaram se seu desaparecimento não seria também o de Milan Kundera. A ignorância é a resposta do romancista
a esse apressado epitáfio.
Em 1955,
Kundera tomou a decisão capital na vida de um escritor. Abandona o tcheco pelo
francês para escrever não só teatro e ensaio, mas também o romance. Além disso,
supervisionou as antigas traduções de sua obra e deu às versões francesas “o
mesmo valor de autenticidade que o texto tcheco”. Não é preciso saber tcheco
para entender sua trilogia seguinte formada por A lentidão (1995), A identidade
(1997) e A ignorância (2000) como um
voto de pobreza, com tudo o que há de humildade e soberba em tomar as Ordens.
Diferentemente de Kafka, para quem o alemão era a língua do judaísmo europeu,
ou de Nabokov, quem elegeu o inglês como um capricho genial contra a extinção,
a Kundera, aparentemente, nenhuma razão radical o forçava a abandonar sua
língua nativa. Talvez em A ignorância
estejam as razões explícitas dessa decisão.
O voto de
pobreza de Kundera reduziu o léxico em A
lentidão e em A identidade, nouvelles à maneira de receber a
hospitalidade do público francês majoritário. A primeira resgata o museógrafo e
libertino Vivant Denon (1747-1825) e confronta a deliciosa preguiça do Antigo
Regime com a velocidade, uma das essências finisseculares, segundo os exegetas
pós-modernistas. Menos feliz resulta A
identidade, onde Kundera recorre a uma paródia que ele mesmo havia previsto
numa página magnífica de A imortalidade:
o casamento entre a alma eslava e a petulância francesa pode resultar tragicômico.
Ambas essências
se atraem com a gravidade que criam um vaporoso apocalipticismo cotidiano, onde
cada coito, embriaguez, gesto de desamor, piscadela inconsciente, doença da
alma ou do corpo, alcançam uma dimensão de dramática tortura dostoiévskiana...
que se resolve no divã de um psicanalista lacaniano. Esta impostação que é
notória em A identidade pode ser
vista nos filmes que compõem a trilogia das cores do polonês Kieslowski e é como
transcrever as sinfonias de Dvorak para as valsas e as mazurcas de Emile Waldteufel.
Por sorte, o
voto de pobreza tomado por Kundera depende de uma regra canônica estabelecida
pelo próprio romancista: o seu romance deve ser uma promenade a século dezoito. Em seus grandes momentos o escritor se
jogou no trapézio para evitar tocar a terra do século XIX e cair elegantemente
em pé junto a Diderot, Voltaire, Sade, Chordelos de Laclos. Até A imortalidade, com esses soberbos
diálogos entre Goethe e Hemingway, o surpreendente artifício funcionava: a má consciência
romanesca se salvava em nome do conto filosófico. Mas com um sentido de humor do
qual carecem “verdadeiros” escritores franceses como Marguerite Duras e sem a
inteligência geométrica de Cioran, outro expatriado, Kundera não podia ignorar
o risco nem fingir que lançava suas cartas à sorte sendo, como é, um brincalhão
empedernido e audaz.
Ante formas
breves e concentradas como A lentidão,
A identidade e A ignorância, Kundera foi intensificando os rigores de seu voto de pobreza. Em 1985, num congresso em
Madri, escutei um intelectual espanhol de conhecida trajetória antifranquista
interromper as lamentações dos escritores sul-americanos: “Senhores, eu também
sei o que é sair de uma ditadura sem ter nada a dizer”.

Kundera,
digno, deixou de se apresentar em Praga e ante ao mundo com um romance
instantâneo que acreditará sua autoria moral, intelectual e artística na
Revolução de Veludo. Talvez contra sua vontade, com as personagens de A vida está em outro lugar, se viu deslocado
da história, embora esta houvesse lhe brindado uma satisfação política.
Retirou-se, meditabundo, talvez se perguntando se a destruição de seus
perseguidores não seria também o fim de sua vida estética. Não abandonou o
romance mas guardou silêncio nele ante a Tchecoslováquia como problema. Uma década
depois, quando a rotina democrática se impõe em Praga, Varsóvia e Budapeste
enquanto o horror nacionalista toma conta da Iugoslávia, Kundera rompe o silêncio
do exilado.
O anseio do
desterrado, disse Kundera, é a dor da ignorância. Seu esperado romance tcheco
não é um roman-fleuve onde o imago de
Rimbaud / Jaromil, poeta e verdugo, reaparece no século XXI à maneira de consequência
oportunista. Graças a dois exilados sem características,
Irena e Josef, que se encontram fortuita e kunderaniamente no aeroporto de Paris,
o romancista dialoga com Ulisses, o príncipe dos desterrados e como ele sabe que
a terra abandonada, como as águas heraclitianas, já não é a mesma trinta anos
depois.
Irena e
Josef, recebidos cordialmente, são Ninguém, como Ulisses. Seu improvável
retorno depende da ignorância desejar por seus compatriotas. Pedem-lhes para
esquecer o seu caminho até Ítaca. Por isso, os antigos consideravam mais infame
o desterro que a morte. Mas a Ulisses lhe restava a função narrativa, enquanto
que ao casal acidental de A ignorância
só lhe é dado o silêncio, como a Kundera a assumida pobreza de ser um mais dos
escritores franceses.
Como Schönberg
em A ignorância, Kundera não se
subestima. E até agora, não subestimou o futuro, pois não caiu na vulgaridade
de apresentar-se como alguém melhor dos que não sabem o que dizer por baixo de
uma ditadura. Só um filósofo do romance poderia tomar a decisão de não confundir
o artigo de opinião com a ficção artística. Seu romance tcheco, e digo com
aliviada decepção, não adotou a majestosa forma sinfônica. Ao contrário, A ignorância deixa em seus leitores essa
excitante tristeza própria das “Letras íntimas”, o segundo quarteto de cordas
do músico tcheco Leos Janácek.
Kundera dedicou
seus primeiros romances a desmontar a natureza epopeica do comunismo, a
desenhar com giz a roda da alegria revolucionária como um círculo do inferno. O
comunismo é história, mas o fim abrupto dessa longa marcha não deu motivo algum
a Kundera para reconciliar-se com a história. No inverno de 1989 soube que o
anseio é uma forma de ignorância mais radical que a política ou qualquer outra
manifestação fenomênica do tempo. A vida, certamente, está em outra parte.
* Este texto é uma tradução de "La ignorancia, de Milan Kundera", publicado na Letras libres.






Comentários