Óxido, de Gastão Cruz (Parte II)
Por Pedro Belo Clara
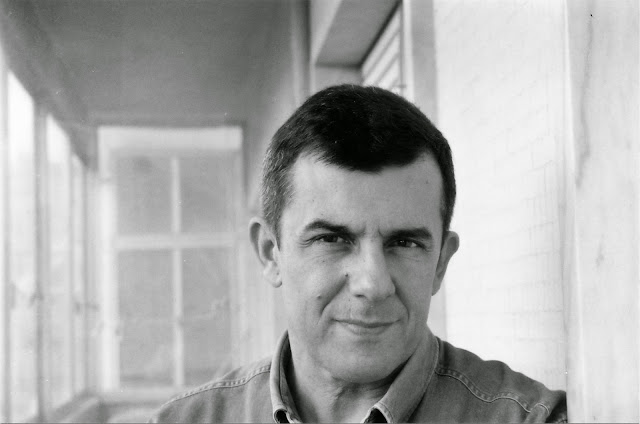
O segundo capítulo da obra cuja
discussão deixámos em aberto na anterior publicação (ver o final desta post), traz em seu prelúdio
elementos antes abordados pelo autor. Embora logo os dilua, lentamente, poema
após poema, sem que o capítulo termine antes de revelar o seu real teor.
Denominado A VIDA DOS METAIS,
abre com o poema “Um nome”, aquele que irá resolver a questão que em si mesmo
embala – resgatada a poemas anteriores, como atrás confidenciámos:
Chamar é um
erro: que
nome
dar a alguém
senão ninguém?
Porém um
nome é tudo o que subsiste
(…)
Torna-se difícil calar a
sensação de que o tempo espraiado pelos textos poéticos apresentados é um tempo
árido onde um certo metal (coração?) oxida. Ou, pelas palavras do próprio
autor, um tempo «onde nenhuma vida / ou morte sobrevive» (“Thriller”). No
entanto, importa sublinhar as impressões que “Corda”, mantendo a mesma linha de
pensamento, nos lega a respeito do ser e de sua nomeação:
Ninguém tem
nome: apenas uma escura
corda de
sons que prende o corpo e deixa
queimaduras
na pele, esse é o preço
de ser
nomeado porque o chamamento
de cada vez
se torna mais ardente
até ser casa
ou roupa ou outra pele
(…)
Conseguimos assim descortinar,
se o olhar estiver devidamente afinado, certas assumpções implícitas nestes
versos que outrora, na anterior publicação, havíamos destacado. Contudo, não
deixa de ser credível uma linha de raciocínio que defende uma preservação do
mais íntimo do homem, aquilo que na verdade é («ninguém»), ainda que manchado
pelo peso do nome: «o preço / de ser nomeado». Leva-nos este vazio para uma
razão de absoluto? Será uma questão sem resposta à altura.
A partir deste momento de
leitura começaremos a assistir à lenta diluição dos temas que tão fortemente
marcaram os três poemas de abertura do capítulo, indo desembocar numa pura evocação
de juventude.
O poema
“Metais” anunciará de modo algo obscuro o que se poderá deixar adivinhar de
forma mais aberta páginas adiante ao expor a dúvida do poeta: «Não sei se o
ouro oxida». Embora o dito poema também se entenda como um dos centrais a toda
a obra: não só pelo nome que ostenta e a sua relação com a epígrafe do trabalho,
como pela própria exploração do tema e principalmente pela definição dos metais
tantas vezes invocados, o que poderá revelar o porquê de certas escolhas:
«extintos astros todavia vivos / num tempo agora inútil». Contudo, há lugar
para a resignação: «a vida dos metais é um enigma».
É então neste clima de
antecâmara («alguns fantasmas ardem na penumbra», “Num bar”) que chegamos a
“Exercícios de morte”. Apesar da evocação antes revelada, cria-se uma atmosfera
de desolação donde se exalam aromas de desprendimento em relação à existência
que começa a ser encarada quase como uma pena a ser cumprida. Nos primeiros
versos, contudo, ainda se denota a inocência dos tempos juvenis:
Corríamos
perigo e não sabíamos
corrê-lo:
cada noite era um oceano
em que nadar
causava maior dano
ao acto de
viver (…)
Mas não significará isso que
toda a luz sucumbirá diante do avanço das sombras, filhas de uma noite
inevitável: «Quase tinha esquecido a primavera». Ainda que, versos adiante, o
autor esclareça a contrapartida dessa salvação chamada esperança: «quem a
espera / está mais perdido que ela» (“Mudança”). Essa «infinda perplexidade»,
porém redentora, é a estrela nesse céu enegrecido pelo passar do tempo. Os anos
colecionados e a aproximação dum grande abismo denominado morte adensam a
textura dos poemas seguintes. Mas não serão neles exclusivos tais veios
temáticos. Compreenderemos, de seguida, como há igualmente uma tentação em
questionar o passado e uma tentativa de lidar com a eterna e frustrante
dualidade de sempre: o que foi e o que poderia ter sido.
Esta continuará por mais algumas
páginas, mas não sem antes chegar à sua própria solução («começo a procurar o
sinal do silêncio», “Há muito”). A mesma, em prelúdio dada no poema “O mar em
agosto”, datado do dia 15 desse mês do ano 2014, aquele que no seu seio embala
a mais fulcral das questões («Poderia ter sido diferente?»), define-se pela
aceitação do que foi e pela ancoragem daquilo que é, independentemente do que
seja. Vejamos os excertos que o sugerem:
O passado
não tem alternativa
(…)
Está selado
o passado,
agora é só
agora (…)
Em “Incursão” tem este
pensamento o seu término, ao qual se lhe anexa uma nova ideia: os sonhos. Com
maior ou menor ilusão, pois bem sabemos como os sonhos disso se podem
facilmente impregnar, são tidos no poema não propriamente como uma nova
salvação, mas como um brilho adicional à existência humana – capaz até de a
limpar de um extenso acumular de mágoas, de lhe conferir outros sentidos, de
lhe conceder diferentes justificações: «Somente os sonhos podem transformar / o
passado». No entanto, a questão impor-se-á: prefere-se a ilusão à realidade,
ainda que todo o sonho seja desenhado em moldes verosímeis? Mesmo sendo
retórica a pergunta, só cada Homem por si poderá encontrar a resposta que
intimamente lhe satisfaça.
Assim se desenrolará a vida humana,
de pergunta em pergunta, como extenso novelo que ninguém, nem aquele que segura
o fio em suas mãos, sabe ao certo em que tempo, lugar ou circunstância
encontrará o seu fim. Independentemente da dúvida, será aí que o indivíduo se
verá diante do derradeiro (e também o mais incógnito) dos desafios, ou seja, o
encontro com a morte – como o poema “O jogo” nos quer sugerir:
Um dia um
jogador virá jogar
comigo um
jogo que não sei jogar
Terminado este capítulo, logo um
outro se anuncia. De nome CAMPO, trata-se de um conjunto de seis breves poemas
numerados e sem título, fazendo desta parte da obra a mais diminuta em
extensão.
Sobre o conteúdo propriamente
dito, teremos diante de nós poemas onde diversas imagens ressurgidas de um
passado distante se irão cristalizar num processo lento de evocação. Dadas as
referências que são passíveis de se identificarem em determinados versos, e ao
imaginário único que sugerem, compreendemos que este capítulo nos remete para a
infância do autor no seu Algarve natal: o forno do pão onde «alguma coisa mais
crescia e se formava: (…) uma alma que era só corpo ameaçado», o «pó da palha»
que «travava a respiração», o armazém que dava guarida a alfarrobas e amêndoas
já colhidas, a açoteia onde «secavam figos», entre muitos outros. Tempo e
espaço serão condignamente reevocados com o pormenor exigido.
Deixámos para o fim os
derradeiros versos do último poema deste capítulo, não só pela sua essência
conclusiva para toda a enumeração de retalhos doutros dias, quase consumidos
nos fornos das estações, como pela ideia a eles adjacente: a vida está à
partida condenada ao abandono. Na verdade, em cada nascimento há um princípio
de morte. Não excluindo a evidência do caso, é bela a forma como o autor trata
neste poema a implacabilidade da dita questão:
era a vida
da casa, e em torno da
nora como um
compasso árduo
os animais
traçavam uma curva,
o futuro
fechando nesse círculo instável
E assim chegamos ao último
capítulo da obra em discussão, de nome ADEN. É provável que para muitos
leitores o título não desperte qualquer recordação, mas veremos muito em breve
como o mesmo serve uma breve homenagem, se assim lida, ao príncipe dos poetas
malditos: o famigerado Arthur Rimbaud. Pois Aden foi um dos lugares onde o
poeta se instalou durante o seu longo exílio de França, o «rochedo terrível»
como o próprio o descrevera numa carta datada de 1880. À época sob domínio
britânico, Aden é uma cidade do actual Iémen – que acolheu Rimbaud antes da sua
estadia em Harar, na Etiópia, onde se tornaria comerciante de café e de armas.
É notória a preferência pessoal
de Gastão Cruz pelo poeta francês. Não só todos os onze poemas do capítulo
estão encabeçados por excertos de cartas de Rimbaud (a última de 1891, meses
antes a sua morte), de cujos assuntos se faz a raiz de cada poema apresentado,
como no trabalho de abertura, “O rochedo”, até apoia em gesto compassivo a sua
decisão de partida. Ambos os poetas quase se tornam numa só força convergente
em ideia, intenção e sentido, embora a essência do poema surja de uma opinião
já formulada de modo idêntico por René Char, a qual também acompanha o poema em
jeito de inscrição.
Para aqueles
que conhecem a história, Rimbaud terá iniciado o seu período mais frenético de
viagens quando se separou de Paul Verlain, com quem nutriu uma relação amorosa intensa
e tempestiva, após a qual terá decido parar de escrever. É a essa desistência
que o começo do poema faz referência:
Fizeste bem
em ir, arthur rimbaud:
a morte da
linguagem era uma
condenação
decerto insuportável
A aridez do lugar que escolhera mescla-se
no mesmo deserto que o poeta português consegue compreender no espírito do seu
homólogo francês. Coincidência ou não, a escolha parece ter sido propositada. E
acrescenta, como quem revela:
fizeste bem
em ir-te
embora, e
não dizer mais nada:
já não era
possível
esperar a
esperança, acreditar
(…)
(…) que a
vida cansada melhorasse
O sentimento imbuído em tais poemas
é em tudo semelhante àquele que polvilhou outros ao longo da obra, conferindo
um total direito (e sentido) à inserção de um capítulo tecido em tais modos num
livro escrito pelos parâmetros discutidos e com a natureza já descrita. Comprovam-no
os versos iniciais de “A fadiga”: «Nada me prende à vida / e se vivo, só vivo
de fadiga».
O poema “A língua da europa”
assume na sua vez uma dimensão deveras interessante dado o questionar que em si
alimenta. E não se trata de colocar em causa banalidades ou eventos do
quotidiano de um indivíduo, antes a razão de tanta viagem levada a cabo com traços
de carácter fugitivo. O excerto da carta de Rimbaud que acompanha o poema é já
de 1883, quando o poeta se encontrava em Harar, e a dúvida que os versos expõem
relembra a perda que tais actos comportam. Vejamos:
De que
servem idas
e vindas
aventuras e fadigas
(…)
(…) correndo
atrás
duma empresa
longínqua
perdendo
cada dia
o gosto pelo
clima os modos de viver
e até a
língua da europa fria
Curioso, o apontamento:
demasiadas viagens tendem a fazer o Homem a desenraizar-se, a diluir-se no
mundo e assim esquecer os contornos do berço que, bem ou mal, o amparou.
Podemos ver como os poemas de
Gastão assumem reflexões nascidas da leitura de certas passagens das já
referidas missivas. Ganhamos uma sensação bastante interessante, enquanto
leitores, de assistir a uma conversa tecida por suas vivas vozes, ainda que uma
ecoe mais distante nos túneis do tempo. Mas a escrita tem o condão de preservar
o discurso, bem se vê.
Retomando a linha de pensamento
que parece guiar o leitor e unir os poemas do capítulo, vamos recolhendo
indícios sobre a inutilidade da vida material, a sua aridez, os seus
incontáveis conflitos sem propósito aparente, o seu enorme manancial de
existência que ao Homem parece sempre um sopro tremendo ao qual nunca soube que
forma dar. Poderemos sublinhar os últimos versos do “Aden, Harar” – «o que
faremos / se nem sequer estar vivos sabemos» – , aqueles que abrem o “Não
viemos aqui para ser felizes” – «A evidência é que viver desune / o tecido da
esperança» – ou a terrível fatalidade de “Por fim” – «Por fim tocamos só areia
e lavas».
Como tem sido habitual, poucos
pensamentos, por mais que a sua teia se prolongue, são propostos sem a devida
solução ou válido caminho (um entre muitos, claro está). Ou seja, não deixa de
irromper uma manhã para cada noite que se convoca. Aqui, é o poema “O
movimento” que vem firmar a luz da elucidação: «Começo a entender a importância
/ de deslocar-me nos caminhos / naturais». Curiosa, uma vez mais, a
constatação, dado certas reacções obtidas de poemas anteriores. Mas a revelação
torna-se mais forte, talvez por intenso ser igualmente o medo do fim, ou
melhor, da morte antes do fim (lembra-se o caro leitor do que referimos sobre
os primeiros poemas deste livro?). Daí a defesa da realização: «a vida é a
liberdade / de usar o corpo».
Poderíamos pensar findo o livro
neste momento. Mas equivocar-nos-íamos. Anuncia-se ainda “Existir”, um poema de
fundas considerações. É aqui que o pedaço da carta de Rimbaud data de meros
meses antes de sua morte, fragmentos que dão azo às inquietações do poeta
simbolista. É ele, inclusive, que formula as questões sobre as quais o poema de
Gastão versa. Referindo-se à vida humana como uma «miséria sem fim», questiona
a sua própria existência – respectivas razões e finalidades, claro.
É igualmente
desse modo que o poema principia: «Existimos?». Quase que o poema inteiro se
poderia resumir a essa questão deveras ribombante, mas o autor espraia o seu
raciocínio por mais algumas linhas: «A ilha do silêncio / é habitada pela voz
dos mortos». Não é a vida feita de uma infinda rede de recordações, prova da
vivência do indivíduo que ainda escuta esses «sons mudos / antes vivos»? A segunda
parte do poema confirma a questão e afirma-se de modo mais sentencioso, conferindo
a este Óxido, e levando em conta os principais temas desenvolvidos, os
discursos formulados e as palavras elegidas, o desenlace digno da sua própria
proposta poética:
Existimos:
os mortos são os nossos
nomes
próprios de vivos
no ensaio
buscando a luz mortal que cresce
enquanto
atrás do pano afinal já descido
o fogo
amadurece
É um livro de vida vivida ou, se
preferir, amadurecida, uma obra sólida contendo experiências, memórias,
saudades, revelações e incertezas – esta que Gastão Cruz colheu como fruto da
sua mais recente produção poética. Um trabalho perfumado por quem viveu a fundo
o que a existência lhe pôde dar, mas igualmente uma prova do constante apuro a
que os autores estão sujeitos. Tem a difícil tarefa, sublinhamo-lo agora, de
suceder a Fogo, obra que lhe valeu a conquista do Prémio PEN em 2014 na
categoria de Poesia.
O autor que
se lançou durante a profícua década de sessenta do século vinte português, a
mesma que assistiu à afirmação de nomes como Herberto Helder, Ruy Belo ou Fiama
Hasse Pais Brandão, que viria a ser sua esposa, lega-nos assim um importante
testemunho poético, tanto ao nível do tema como da execução do género que o
assiste, pronto a ser desbravado pelos seus mais íntimos leitores, já
acostumados ao traçado e ao teor poético do autor em causa, sendo de modo
idêntico uma boa aposta para todos os apreciadores de poesia com funda
substância e sólida propriedade. À semelhança de muitas outras ocasiões, fica lançada
a proposta.
Ligações a esta post:
Pedro Belo
Clara é colunista do Letras in.verso e re.verso. Por decisão do editor do
blog, nos textos aqui publicados preservam-se a grafia original portuguesa.
Nascido em Lisboa, Pedro é formado em Gestão Empresarial e pós-graduado em Comunicação
de Marketing. Atualmente centrado em sua atividade de formador e de escritor,
participou, com seus trabalhos literários, em exposições de pintura e em
diversas coletâneas de poesia lusófona, tendo sido igualmente preletor de
sessões literárias. Colaborador e membro de portais artísticos, assim como
colunista de revistas e blogues literários, tanto portugueses como brasileiros,
é autor dos livros A jornada da loucura (2010), Nova era (2011), Palavras
de luz (2012), O velho sábio das montanhas (2013) e Cristal (2015).
Outros trabalhos poderão ser igualmente encontrados no blogue pessoal do autor
– Recortes do Real (artigos
e crônicas diversas).






Comentários