Os oito odiados, de Quentin Tarantino
Por Pedro Fernandes

Tornou-se
lugar comum a exaltação da genialidade: basta que alguém faça alguma coisa que
se distinga das formas triviais e ganhe com isso alguma visibilidade. Fazer alguma
coisa que se distinga das formas triviais, entretanto, nem sempre é um signo de genialidade, logo, não é possível chamar alguém, por esse motivo, de gênio. Essa questão
é trazida para o início de um texto que aparentemente se configura como um
conjunto de notas sobre o mais recente trabalho de Quentin Tarantino por uma
causa – a febre que tomou alguns expectadores mais exaltados, fãs do diretor, a
partir de Os oito odiados.
Se esta é
uma das produções melhor realizadas – é meu ponto de vista, de alguém que descobriu
o diretor em Pulp fiction (o título
que certamente o tornou querido entre todos), deixou de ver alguns outros
trabalhos seus e, a partir de Kill Bill
não perdeu nenhum dos seus filmes – isto não o faz de um todo genial. Mesmo porque
o adjetivo talvez nunca sirva a quem é só um exímio catador de referências e
bricolagens no processo de composição da obra; não há nesse curso o trabalho
criativo (no sentido de criação) comum a outros cineastas que introduziram maneiras
de composição únicas e logo indispensáveis para todas as produções que vieram
a seguir. Isso não desfaz a compreensão de que Tarantino é um dos mais
inventivos de sua geração. Mas gênio,
é melhor gastar esse termo com figuras como os irmãos Lumière, os responsáveis por
essa forma de expressão pela imagem, e os criadores que acrescentaram peças e recursos no
desenvolvimento do cinema tal como conhecemos hoje.
Agora, o que
faz de Os oito odiados o melhor de
Tarantino? No meu caso, talvez seja a maneira como o cineasta se propôs passar
a limpo a formação étnica de seu país. Sim, este filme tem, além da extensa
quantidade de referências catadas no lixão, digamos assim, formado por todas as
produções cinematográficas, inclusive as do próprio diretor, um caráter vindo
em boa hora, de se repensar as origens do estadunidense – sem que os termos não fiquem por servir apenas ao contexto onde nasce a obra, afinal, a formação
dos Estados Unidos se deu de maneira mais ou menos próxima dos demais países da
América; se eles tiveram o privilégio, por assim dizer, de uma colonização de
povoamento, muito diferente do que os portugueses fizeram com o Brasil, por
exemplo, não deixam de ter recebido toda sorte de pessoas e ter sido campo
fértil para uma diversidade cultural (constantemente marcada pela necessidade
de achatamento das formas no intuito de construir uma identidade acabada do
estado-nação) e também uma diversidade de interesses escusos e o certo princípio do bem-estar social ou do ideal de civilização corrente na
Europa como necessário aos chamados novos povos. E todas essas questões não passam ilesas nesse filme.
Para emoldurar
essas discussões o cineasta retorna ao motivo de seu trabalho anterior,
a questão racial – talvez a marca mais latente na formação do estadunidense.
Traz para a cena, inclusive, a mesma figura do caçador de recompensas negro,
mas agora, o destrona do pedestal de herói (uma resposta às críticas mais
radicais de que Django livro era uma
celebração à liberdade do negro nos Estados Unidos?) e reafirma aquilo que
concluiu no filme anterior: a questão racial não só uma marca latente na
formação do estadunidense, é também a mais vergonhosa, a mais inconcebível,
porque é um preconceito de um ser por outro da mesma espécie. Não há crime praticado
por um negro contra um branco racista que pague esse outro crime. Isso é muito visível
na presença do caçador de recompensas vivido por Samuel L Jackson.
E como
Tarantino faz isso? Reaproxima o cinema do teatro – fora a longa introdução em
que apresenta as personagens (um caçador de recompensas que leva uma fugitiva
para a forca, a aparição no trajeto da já citada personagem vivida por Jackson
e de um caipira todo prosa com a satisfação de ir assumir o posto de xerife) –
o que predomina como espaço da narrativa é uma venda tomada de membros de uma quadrilha (mais não conto para não estragar a surpresa das relações aí construídas)
e essas personagens em trânsito que chegam para abrigar-se de uma horrível
nevasca que as impedem de prosseguir viagem até o destino final. Na venda estão,
entre outros, um velho combatente da Guerra de Secessão, o outro lado, portanto
da trincheira na qual lutou a personagem de Jackson, um mexicano e um escritor
inglês (ironicamente e muito bem vivido pelo próprio diretor com sacadas de metalinguagem
construídas de uma maneira que quase salta para o colo do expectador que tudo ali
se processa da maneira que se processa porque é conduzido por ele, embora o desfecho
aponte mais para uma morte do autor).
O leitor já
terá percebido que num cenário desses, marcado só pela presença de
personagens representativos de mundos em conflito, não resultará outra coisa se
não o embate. É por essa relação que Tarantino se desfaz da ideia da personagem
principal ou da figura do herói, porque, reduzidos num curto espaço, o que
resta é dar vez a todos os envolvidos na cena – apesar da presença da personagem
de Samuel L. Jackson ser sempre a mais invasiva, por assim dizer, talvez pela
bagagem da história de vida que o define, mais marcante que a de qualquer outra
personagem nessa redoma. Mas, note que as peças escolhidas a dedo pelo diretor são
as mesmas da constituição étnica de seu país e são as questões daí imanentes – na
velha intriga de quem é melhor que o outro – que perpassam toda a obra. Daí o
título trazer em sua constituição o termo odiados,
mas, sem se ater a necessidade de serem oito os odiados (são oito as personagens envoltas no imbróglio inicial do filme, mas tenho dúvidas se todas se odeiam). O número seria apenas
a marca de uma sequência das produções do diretor? Este é o seu oitavo filme e,
aproveitando a deixa, sobretudo da repercussão do último título, estaria caçoando
da crítica com a ideia de ser este o oitavo odiado? As especulações ficam para
os especuladores.
Outro
elemento que ganha forma – num filme que se desenvolve basicamente num único
espaço fechado – é o texto. Tarantino atenta contra a preguiça da escrita que
tem solapado a principal natureza do cinema (contar uma história através de imagens)
e presa apenas na ideia do entretenimento a qualquer custo. Mostra que o bom cinema se faz com enredo e texto. E, claro, usa de
todos os recursos que já integram o seu estilo de produção: o flash-back, a narrativa em off, a extensa quantidade de
reviravoltas da narrativa, e as feições intersemióticas que zeram a aparência da
peça de retalhos e apresenta como uma obra original. No mais, Os oito odiados parece beber, em parte, do teatro de Bertolt Brecht ou de Henry Miller, sobretudo pelo caráter político assumido pela narrativa no intuito de recobrar
a história para negar certas posições retrógradas que têm, cada vez mais,
ganhado corpo numa época em que se esperava já tivessem sido suplantadas. E, sim, Harold Pinter! Todo o esquema de construção dessa obra é pinteriano: um espaço fechado e a exploração limite do texto. Só
por isso, é um filme necessário.
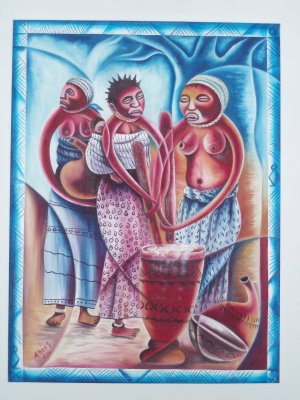





Comentários