Casa na duna, de Carlos de Oliveira
Por Pedro Belo Clara

Eis um nome de excelência do
neo-realismo português. Dadas as anteriores discussões que neste espaço tivemos,
sobre o autor e alguns dos seus trabalhos (ver o final desta post), a adjectivação não poderá constituir
uma assombrosa surpresa.
Apesar da obra publicada em
prosa ser escassa, facto também agravado pelo precoce desaparecimento do autor,
o seu nome será certamente um desses que adquirem uma dimensão somente justificada
pelo génio que lhes assiste, sublinhado posteriormente no simples exercício
material do mesmo.
Editado pela primeira vez em
1943, Casa na duna, um romance, poderemos dizê-lo, de “tenra idade”,
apresenta-se como uma agradável surpresa aos olhos do leitor. Ainda que a versão
tida por “definitiva” tenha surgido só em 1980, um ano antes da morte do autor,
na sétima edição da publicação orientada pela Livraria Sá da Costa Editores, a
narrativa encerra já linhas de notável maturidade. Carlos de Oliveira tinha
apenas, recordemos, vinte e dois anos, o que prova sem grande contestação o
inegável talento do autor. Contudo, para efeitos desta discussão,
consideraremos a edição mais recente do trabalho, reproduzida em 2004, pela
Assírio & Alvim.
O enquadramento da narrativa também
não nos será estrangeiro. Já falámos sobre as influências neo-realistas que em
Oliveira sobressaem, pelo que recordaremos somente alguns traços de
regionalismo (esbatidos ao nível da linguagem, se comparados com outros autores
também versados nesse registo), a opção pelo parágrafo curto e conciso, tal como
os capítulos, e o recurso habitual aos cenários da gândara, região de Portugal
Continental onde o autor passou a sua infância. As linhas de abertura, aliás,
sobre essa preferência não deixam qualquer dúvida, além de passarem um atestado
viável sobre a capacidade descritiva revelada pelo autor:
«Na gândara
há aldeolas ermas, esquecidas entre pinhais, no fim do mundo. Nelas vivem
homens semeando e colhendo, quando o estio poupa as espigas e o inverno não
desaba em chuva e lama. Porque então são ramagens torcidas, barrancos, solidão,
naquelas terras pobres».
Admitamos, porém, que a
expressão anterior não foi propriamente a acertada. Não se trata de
“preferência” o retratar da região de origem, mesmo tendo nascido o autor no
Brasil, mas sim de um profundo manifestar de amor a uma terra peculiar de
enormes contrastes, ao mesmo tempo que serve de metáfora – perfeita – para a
realidade do Portugal de então.
Neste
romance em particular, é a aldeia de Corrocovo que assume essa
responsabilidade: o espelho fiel de um país fechado sobre si mesmo, ruralista, cuja
história diária se assenta num registo em que a sobrevivência se sobrepõe à
plácida vivência, e onde as classes mais abastadas exercem um domínio opressor
sobre as mais desfavorecidas. Daí que, não obstante a faceta poética que
Oliveira imprimia por vezes em seus trabalhos prosaicos, sobressaia uma certa
aspereza de sentido bebida no manifestar de determinadas ocorrências,
impulsionadas quase sempre pelo rugir de uma raiva profunda acalentada pelas
mais afoitas personagens. E dizemos “afoitas” pois, em regra, são aquelas que
tardam em se resignar ao fatalismo da existência – prática comum no país de
outrora, com marcas ainda visíveis nos dias que correm (se nos permitem a
confidência).
Na verdade, tendo em consideração
todas estas características, será correto deixar cair a opção “romance” e trocá-la
por “novela”, dado o carácter breve da narrativa que a obra nos apresenta: vinte
e nove capítulos espraiados por pouco mais de cento e trinta páginas, apesar da
sua substância revelar potencial para muitas mais. Mas assim era Carlos de
Oliveira: curto e conciso, como antes referimos. Todo o sobejo de palavra,
sentido ou indicação, era de pronto arredado da estrutura da tapeçaria que no
seu imaginário idealizava, algo que na sua prática poética também se sucede. Um
declarado amor ao depurar das frases, ao abrilhantar dos sentidos, ao burilar
das intenções, destaca-se ao ponto de ser considerado um traço vincado da
personalidade do autor. E a sua defesa é tal que, mesmo admitindo a
possibilidade de alargar a narrativa em certos momentos, qualquer leitor acaba
por respeitar de boamente um traçado que, no fundo, somente regista parte do
retrato daquele que assim o pensou.
As questões sociais são
igualmente um dos temas preferidos por Oliveira. Os vivos ecos neo-realistas
contribuíram em grande escala para o seu adensar, graças a essa típica natureza
de retratar o real apreendido pelo sujeito que experiencia e observa – directa ou indirectamente – a seu fluida
desenvoltura, o que constitui o fundo perfeito para o despoletar da crítica e
da denúncia. Se isto ainda não havia ficado claro anteriormente, onde de modo
subentendido o demos a revelar, agora, de mãos abertas ao olhar, sublinhamos garridamente
o facto. As mesmas, aliás, povoam praticamente cada página desta novela, seja
por vias mais claras ou remetidas para segundo plano. Basta que se aguce o
olhar e se afine a percepção. Este exemplo, dado a certa altura da narrativa,
mesmo que remetido a uma aldeia em particular, mas que já sabemos servir de
metáfora para o país de então, esclarece qualquer dúvida a respeito:
«(…) homens a
viver como os bichos ou pior que os bichos».
A
implacabilidade da frase é tal que somente o silêncio poderá pairar no término
da sua leitura; um silêncio denso, mas que abarcará qualquer palavra pejada de
fúria, revolta ou, para os mais inocentes, assombro.
Acompanhamos ao longo destas
páginas a saga da família Paulo, que ergueu a casa que nomeia a própria novela.
De riqueza granjeada graças à desgraça alheia, «num tempo em que os camponeses
trocavam a terra a canecas de vinho», vão as peripécias se sucedendo em vidas
tão abastadas, enquanto que no fundo do cenário selecionado, todo um conjunto
de (outras) existências interdependentes vai desempenhando o seu papel
atribuído por direito de nascença e condição social. Neste caso, os empregados
da propriedade: estação após estação, com as suas agruras e queixumes,
cumprindo uma vida de eterna lavoura com «gestos lentos e antigos». Então,
seremos detidos num momento crucial para a família, seus trabalhadores e região
onde habitam, uma transformação capaz de revolver todas as habituais incidências
dos seus quotidianos. E aqui poderemos mesmo afirmar que o desfecho escolhido
pelo autor é uma pura demonstração da mais fina ironia, uma espécie de “justiça
divina” que, a não acontecer no plano do real (e quantos não terão se perdido
em suas ilusões?), manifesta-se no plano narrativo com toda a sua propriedade.

Poderão
alguns celebrar a queda das classes mais dominantes, mas na verdade a faceta
humana também a elas assiste… Rico ou pobre, em primeira instância todos se
inserem nessa tremenda, complexa e contraditória classe denominada “Homem”. A
dada altura, inclusive, o próprio protagonista também se encontra subordinado a
sujeitos de maior poder económico, prova da transitoriedade de tudo o que nos
rodeia. Em tempos atribulados, como se constata, quem num dia é rei no outro
torna-se servo – não obstante a compaixão que, uns mais que outros, poderão
exercer para com terceiros. Daí que a derradeira contenda desta personagem
central, Mariano Paulo, a testemunha da ruína de sua abastada família, desde a
morte da mulher, desinteresse do filho nos assuntos da propriedade ou a busca
por outras actividades, que não a agrícola, de forma a sustentar o seu legado, seja
com uma entidade externa – o destino:
«Há famílias
assim, votadas à destruição. Devia talvez cruzar os braços e deixar correr. Ser
o cordeiro pacífico. Mas comigo o destino engana-se. Vou espernear até ao fim».
O Homem
remete-se assim à sua mera condição de mortal, rendido que fica aos devaneios
de algo que invariavelmente o transcende. Ciente disso, o acto final de Mariano
constituirá também a sua derradeira vitória: a vingança calada por tudo o que
contra ele, sua família e propriedades, agentes estranhos engendraram. Na vez
de adiar a ruína iminente, Mariano, sem muito onde se apegar, antecipá-la-á:
«Não sou
homem para ajoelhar, para pedir misericórdia».
É por toda
esta odisseia que se estranhará, eventualmente, a compacidade da narrativa. Se
uns optariam por "arejá-la”, recorrendo a passagens mais leves, anotações
mais demoradas, reparos em arestas mais distantes do mesmo prisma, o autor de Uma
abelha na chuva opta, como já sabemos, pela defesa do seu estilo. E isso, após
uma leitura, talvez em segunda ou terceira mão, é uma decisão com que o leitor
se confronta sem que a conteste, na medida em que o exercício da mesma é justo
e adequado a todos os contornos que vai exibindo.
Uma
característica igualmente interessante das novelas de Carlos de Oliveira pode
ser observada nas constantes analepses que introduz ao longo das narrativas,
dedicando-lhes até capítulos inteiros. Flashbacks, digamos, que cortam a
história e nos remetem para momentos de um passado já distante. Dir-se-ia que
por influência das artes cinematográficas esta técnica, que contribui para
quebrar ritmos e diversificar a acção, cai no goto do autor português.
O crítico
Pedro Correia, sobre esta obra, muito acertadamente considerou: «Aqui não
sabemos o que mais admirar — da desenvoltura da escrita à densidade do tema,
passando pelas principais personagens, jamais reduzidas a caricaturas». Sem
dúvida que esse, o traçado psicológico de cada personagem, manifestado nas suas
acções materiais, é apenas mais um elemento a apreciar num trabalho sobejamente
conseguido. Não obstante, é claro, as vívidas imagens que as palavras, sempre
tão bem casadas, sugerem no imaginário dos leitores: um mundo de poesia serena,
de lagoas brandas e tardes de cal; mas igualmente de pinheiros fustigados pelo
vento das tempestades (as agrestes bátegas, testemunho da aspereza daqueles
climas oscilantes), serões de absortos silêncios, lívidos luares cortando o
negrume de noites evocadoras de bruxas e lobisomens… Em suma, a “mitologia de
Oliveira”, já que, uma vez mais, os mesmos transparecem da sua poesia,
comprovando uma transversalidade adjacente.
Pouco mais
poderemos acrescentar sobre um autor que, por si só, já tanto nos poderá dizer.
Apenas fomentar um apelo para que se não esqueça o aprumado rigor e engenho de
um dos mais importantes escritores portugueses do séc. XX. O próprio, aliás, curiosamente
neste livro materializa um apelo em tudo gémeo daquele que pretendemos
executar: «Basta que a memória ceda apenas um momento para os mortos estarem
perdidos». Se algo houver a acrescentar, que o faça, uma vez mais, o próprio
autor, pois só ele e sua obra, pesadas todas as variantes, para o assunto
importam.
«(…) a tarde
cai sobre Corrocovo. As aves saem por fim das árvores e voam de encontro ao sol
quase a tocar o horizonte. No silêncio da planície, só a mesma cantiga monótona
ecoa. Uma voz de mulher. Exausta, triste».
Ligações a esta post:
***
Pedro Belo Clara é colunista do Letras in.verso e re.verso. Por decisão do editor do blog, nos textos aqui publicados preservamos a grafia original portuguesa. Nascido em Lisboa, Pedro é formado em Gestão Empresarial e pós-graduado em Comunicação de Marketing. Atualmente centrado em sua atividade de formador e de escritor, participou, com seus trabalhos literários, em exposições de pintura e em diversas coletâneas de poesia lusófona, tendo sido igualmente preletor de sessões literárias. Colaborador e membro de portais artísticos, assim como colunista de revistas e blogues literários, tanto portugueses como brasileiros, é autor dos livros A jornada da loucura (2010), Nova era (2011), Palavras de luz (2012), O velho sábio das montanhas (2013) e Cristal (2015). Outros trabalhos poderão ser igualmente encontrados no blogue pessoal do autor – Recortes do Real (artigos e crônicas diversas).
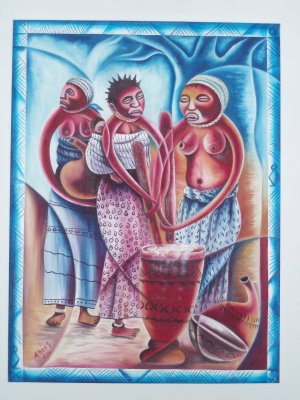





Comentários
Saudações literárias.