Um grão de trigo, de Ngũgĩ Wa Thiong’o
Por Pedro Fernandes

O que mais
poderá tocar um leitor na literatura de matriz africana é sua diversidade.
Qualquer um que se aventurar ensaiar uma breve incursão que seja por este vasto
território logo será tomado por essa impressão. A chegada ao Brasil da obra de
Ngũgĩ Wa Thiong’o vem novamente reforçar essa certeza; é supostamente a
primeira vez que é publicada por aqui a obra de um escritor do Quênia, ao menos
com essa consistência. A entrada das chamadas letras periféricas traz alguns
sinais que, se o mercado editorial não terá pensado porque está (infelizmente)
mais interessado nos lucros, merecem ser lembrados em ocasiões como estas: a
necessidade de formar leitores abertos à recepção de outras culturas e,
obviamente, inscrever outras literaturas no chamado cânone literário.
Ao
referir-se ao interesse capital do mercado editorial sobre obras como a de
Ngũgĩ Wa Thiong’o este texto compreende que elas só chegam aqui porque o autor
ultrapassou já uma longa barreira para entrada num universo estreito e seletivo
(sempre alimentado pela força do dinheiro). Ultrapassar o cerco pela literatura
é um mérito do escritor. Mas será que, só escrevendo o que escreve (e sabemos
que Ngũgĩ Wa Thiong’o, por exemplo, faz o que faz com qualidade) seria motivo
suficiente para que as grandes editoras se interessassem pela sua obra? Fiquemos
com a pergunta. Não é motivo para engendrar uma profusa reflexão sobre o tema,
porque o objetivo aqui é outro: por que ler Um
grão de trigo? (Além desse título publicado pela Alfaguara Brasil, a
Biblioteca Azul, selo da Globo Livros trouxe na mesma data, Sonhos em tempo de guerra).
A resposta
que serve para marcar o longo itinerário percorrido por Ngũgĩ Wa Thiong’o até
chegar em mercados editoriais de grande porte vem na extensão intervalar entre
a data de publicação de Um grão de trigo
e sua chegada ao Brasil. Ainda que utilize como língua de comunicação escrita o
inglês, o idioma reiteradas vezes taxado de universal e por isso o que melhor
aproximaria a obra das mais importantes frentes da cultura livresca, o romance
do queniano, publicado originalmente em 1967 só agora é descoberto por aqui.
Somam-se quase cinco décadas, o tempo em que muitas outras obras (que por um
golpe de sorte não foi a de Ngũgĩ Wa Thiong’o), inclusive do Brasil caem na
vala comum do esquecimento.
Depois de
dizer sobre a diversidade literária das letras africanas, é preciso não deixar
de ressaltar sobre a aproximação ou recorrência de alguns temas trabalhados por
essa literatura porque quase sempre estamos nos referindo a contextos que
embora muito diversos culturalmente, historicamente estão irmanados por
situações comuns. Todos os países daquele continente passaram (e ainda passam)
por uma extensa exploração orquestrada conjuntamente pelo mundo ocidental,
nunca satisfeito com o que tem ou sempre interessado na subjugação do outro a
fim de manter um determinado modo de vida pautado sempre no alcance do pleno
conforto. A herança deixada pelos colonizadores é uma conta que até hoje têm de
pagar (e parece que para todo o sempre, porque em sociedades cujo processamento
da chamada independência foi mais cedo que em territórios africanos, por
exemplo, ainda se padece dos seus males).
E, Um grão de trigo, é um romance que não
se esquiva daquilo que não se esquivou outras literaturas de África: a de
registrar e denunciar essa exploração e louvar o processo de luta do seu povo
para ter de volta aquilo que naturalmente já era seu. Alguém pensará, a terra.
Mas, este texto prefere pensar noutras palavras para isso (inspirados pelo
discurso de um desses heróis da independência do Quênia registrado por Ngũgĩ Wa
Thiong’o): liberdade, paz, dignidade. Esses são termos mais aceitáveis quando
se pensa na condição de submissão colonial desses países. Que ninguém pode tentar
ser alguém se chega para se banquetear de suas benesses um intruso interessado ainda
em impor seus modos e sua cultura e tomar para si o que não é. Mas, ao invés de
se deter apenas no processo de luta pela independência (como se organizou as
primeiras insurgências, a perseguição aos líderes dos movimentos de
libertação), Ngũgĩ Wa Thiong’o constrói uma obra assinalada por outras duas
temporalidades: a que antecede o período de enfretamento do poder e o de depois
da independência. Um painel dessa extensão (apesar de organizado em poucas páginas)
dá a esse livro um poder significativo de grande obra.
E o que faz
Ngũgĩ Wa Thiong’o para conseguir condensar tantos anos de história numa
narrativa breve e leve, mas nunca piegas ou enfadonha, porque alimentada de um bom
ritmo e muito bem construída? O romancista não elege a figura de um herói para
acompanhá-lo da sua origem ao pós-independência – de repente a saída mais
viável e, ao ler, sobretudo a primeira parte, o leitor sai com a convicção de
que o narrador terá se proposto a isso porque se concentra na figura de Mugo,
um homem solitário que esteve preso nos campos de detenção durante o período de
perseguição dos ingleses aos líderes do movimento pela independência. Ou, nessa
mesma conjuntura, a figura de Kihika, outra personagem principal na narrativa,
mártir na luta. Não. Ngũgĩ Wa Thiong’o desconstrói a ideia do heroísmo de uma
única figura, possivelmente, porque compreende toda a comunidade queniana como
responsável pela conquista.
E faz dessa relação
herói individual e herói coletivo tema para uma discussão interessante, mas
nunca se descuidando que autorizar alguém a ser o representante de uma
comunidade é sempre uma faca de dois gumes: o escolhido pode honrar com a
escolha ou pode dar as costas para aquilo que se espera dele no poder porque já
está cego de outras ambições. Esse drama é experimentado pela figura de Mugo –
quem, depois de voltar da prisão sem delatar seus companheiros – passa a ser
visto como o líder de Thabai (o lugar elegido pelo romancista para sua
narrativa). E, em Karanja, um dos que estiveram à frente do movimento de libertação
e é encontrado como líder mandado pelos
ingleses.
Outra
estratégia adotada pelo romancista é a de expor que as sombras de um passado recente
não se desfazem de maneira tão veloz como parece firmar os livros de história.
E ressuscita o interesse do grupo pró-independência em descobrir o traidor que possivelmente teria favorecido a morte de
Kihika, quem primeiro se aventura em organizar as massas em prol da liberdade
em Thabai, num misto de discurso messiânico-político pela penetração religiosa
do cânone bíblico e pela inspiração em líderes como Gandhi e Abraham Lincoln;
não sem uma pitada de revolução do proletariado russo. Esse suspense que torna
as relações entre os habitantes da pequena aldeia um tanto ressabidas é o que
mantém o leitor preso desde quando se familiariza com a ordem do narrado, que
se guia não por um plano cronológico, mas fragmentado com idas e vindas no
tempo e sem quaisquer sobreavisos, além das variações em tons da narrativa ora
assumida por alguma das personagens e logo tomada pelo narrador em terceira
pessoa, recurso que oferece um dinamismo à tessitura do narrado. Agora, com
tantos recursos de ordem histórica, o leitor há de se perguntar, onde estará a
leveza da narrativa que apontamos acima.
Ela reside
no que há de melhor nesse romance: o registro da vida simples dos quenianos, os
envolvimentos amorosos, as tradições, a complexa relação entre os diversos
núcleos comunitários, a convivência com determinados artefatos culturais
estranhos ao seu universo (seja a religião, os modos de se portar, a crescente
penetração do capital e da cultura da posse ou mesmo o encanto que a chegada do
trem promove entre os habitantes da aldeia de Thabai). Nesse universo de riqueza
única, Ngũgĩ Wa Thiong’o constrói um painel de tipos humanos divididos entre a
impossibilidade de serem o que são porque a presença do invasor já terá
alterado os modos de convivência entre os indivíduos de Thabai, e dos
indivíduos com sua cultura.
Um exemplo desse
impasse? As relações amorosas. Numa sociedade em que a mulher, embora possa
dispor da quantidade de homens que quiser, é sempre condicionada a ser submissa
ao homem, que também tem a liberdade de escolha da quantidade de parceiras que
lhe for conveniente, sem que para isso nenhum e nem outro tenham de se apegar
pelo laço do que no Ocidente ficou estabelecido como amor, a nova geração dos gikuyu
– o grupo retratado em Um grão de trigo – está agora tomada de
ideias desencadeadas pela forma da monogamia: a traição, o desamor, a paixão, o
apego. Esse embate é acompanhado de perto pelo narrador na construção das
relações afetivas entre os da aldeia.
E, por citar
este termo, embate, é muito
conveniente reparar no exercício de aprofundamento pelo interior das
personagens. Se ora a narrativa é um
talho naturalista na descrição da paisagem, ora é ir-e-vir da consciência retratada.
Por breves que sejam, o leitor que já tiver passado pela literatura de
Dostoiévski não tardará perceber certo traço de identificação. Essa é uma
observação que, gerida ao lado das outras aproximações ensaiadas pelo romancista,
funciona como uma constatação de que Ngũgĩ Wa Thiong’o sabe conjugar sua
criatividade imaginativa e, portanto, o seu tônus
literário, com a tradição do cânone.
É embate
também a forma como o narrador constrói a relação entre o negro e o homem
branco dispondo não uma mera medição de forças das raças, mas demonstrando as
complexas resistências de ambas as partes no processo de assimilação cultural –
está nesse convívio a própria gênese de uma reinvenção de seu povo ou construção
do Estado-nação como uma imposição contrária ao modelo de castas sociais.
Enquanto
pinta esse painel diverso e sobretudo humano, Ngũgĩ Wa Thiong’o não constrói
uma epopeia marcada pelo sangue e pela morte (condição sempre desejada pelo homem
que quer o embate com o colonizador para repatriar o que é seu, conforme deixa
escapar os primeiros discursos em torno da ideia de independência, por
exemplo); não é uma obra interessada em expor o horror com tintas fortes, mesmo
não esquecendo que ele está presente.
Ao invés
disso, o romancista prefere compreender a história como um extenso drama e a colonização
como um grande sismo capaz de abalar não apenas as fronteiras e ideia de comunidade
como as margens do eu-indivíduo. Filtra nesse processo a colonização como uma
radical esquizofrenia dos povos em que, não raro, quem se mostrava capaz de
bradar contra os desmandos do colonizador alia-se a ele nas mesmas práticas de
segregação. É evidente que nem todo processo dessa natureza deu-se pela forma
de um mero impasse em que as duas partes vão perdendo suas definições até
encontrar com um novo homem (digamos assim) – há casos e casos. Se no Quênia a
princípio as coisas se processaram como mais ou menos se passaram no Brasil,
através de acordos escusos assinados no escuro ou por debaixo das mesas, tal
como sugere Um grão de trigo, isso
foi o começo de uma saída igualmente dramática como os que precisaram travar o
confronto corpo a corpo desde sempre. Não há colonização sem traumas e o
romance prova isso.
Outra frente
que nos desperta na literatura de África está na singeleza como que as histórias
são construídas; é como se tivéssemos ante a simplicidade da escrita de nossos
primeiros escritores, mas, por estarmos num contexto de muitos séculos de produção
cultural além dos idos tempos do Brasil-colônia, aparecem, sobretudo os
enredos, muito bem arquitetados. Isto é, pelo tema de denúncia dos
procedimentos desastrosos da colonização e por essa natureza particular de construção
da narrativa, estamos diante de uma obra que alia o ético e o estético como
procedimento para compreensão de drama que não é mais só de África ou do Quênia.
É muito dos que passaram por processos de igual maneira, como passamos e muitas
vezes já não dispomos de memória suficiente para sentir o valor da expressão
liberdade ou mesmo compreender por que ainda estamos digladiando dia e noite
por questões tão pequenas quando outras necessidades são mais imperativas. É
peça importante, vê-se, na compreensão do homem e suas contradições.

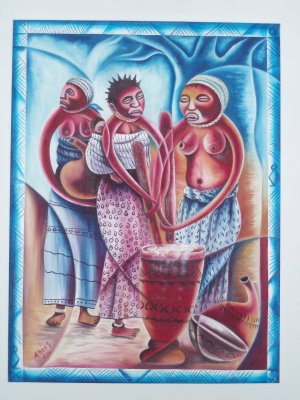





Comentários