Cada poema de Herberto é um caos que tudo origina - sobre Poemas canhotos (parte 1)
Por Pedro Belo Clara
 |
| Herberto Helder. Foto: Alberto Cunha |
Diante
dos nossos olhos, o derradeiro livro de Herberto Helder – poeta que, após a sua
morte, tem sido alvo de comparações, no que toca ao impacto da sua obra na
literatura portuguesa, com o legado de Fernando Pessoa. Não iremos julgar o
caso, tampouco nos cabe tal tarefa, mesmo conhecendo o popular fenómeno “após a
morte todo o poeta ignorado em vida se revela subitamente um génio literário” (Poemas canhotos esgotou em muitas livrarias no próprio dia do lançamento). Os nossos
esforços centram-se somente no convite que endereçamos a todo o leitor
interessado: a profunda descoberta do autor. Contudo, as intenções
solidificam-se: um outro nome “ameaça” juntar-se à restrita elite poética
composta somente por Camões e Pessoa – a mais fina nata, à qual outros poderão
acrescentar os contributos de Cesário Verde e Camilo Pessanha, por exemplo.
Mas
não desejamos diluir o nosso foco em demoradas distrações, ainda que as mesmas não
estejam totalmente destituídas de sentido ou propósito. Continuemos, assim, a
nossa apresentação.
Publicado a título póstumo, neste livro não se
adivinharão traços de incompletude, dado que obra foi totalmente revista pelo
autor ainda em vida. Por isso, poderemos contar com a maturidade plena de um estilo
de escrita exercido ao longo de diversos anos e de distintas fases de
crescimento. Algo de assinalar, diga-se, dado que incomuns são os casos
idênticos.
Composto
por apenas dezasseis poemas, desprovidos de títulos e com pontuação pouco
regular, encontraremos a face poética mais genuína de Herberto: aquele rumor de
vulcão que parece impregnar cada poema, a força criadora do próprio universo anunciada
num frémito tremente, o eco vibrante duma voz genesíaca. Naturalmente, acrescentar-se-á
a aspereza que lhe é inerente bem como a agressividade de intenções e sentidos
– poeticamente fulgindo numa clareza capaz de cegar.
O
exercício criativo é ímpar. Poderemos mesmo dizer: genial. Mas dificilmente
haverá criação sem esforço. Ao invés de espontânea, é aqui trabalhada com
afinco e repetidas lapidações. O esforço da criação poética impulsiona assim o
nascer de uma estrela, astro que mais não é do que o puro cintilar da vida em
estado selvagem, bruto, primordial. Cada poema de Herberto é um caos que tudo
origina.
Falámos
em esforço, antes. Ora, tal arduamente poderá existir sem que uma qualquer
espécie de conflito advenha. Essa palavra, aliás, é a chave subentendida no
poema de abertura, composto por apenas dois versos: «a amada nas altas
montanhas / o amador ao rés das águas». Teremos desde já a súmula perfeita de
todo o encontro entre o poeta e a sua criação? Não sabemos. Em todo o caso,
aplica-se o exemplo a qualquer autor, poeta ou não. Seguindo essa linha veremos
o eterno desfasamento entre o poeta e a própria poesia: o «amador», sempre ao
«rés das águas», e a «amada», desejo eterno, pérola tão preciosa e
deliciosamente inalcansável – «nas altas montanhas». Se nos debruçarmos mais
atentamente sobre o poema vê-lo-emos como um rio capaz de reflectir as mais
variadas dualidades, os mais variados conflitos: a humanidade e o divino, o
homem e a mulher, o ser desejoso e o objecto de tamanho desejo, entre muitos outros.
Emergirão certamente à memória alguns dos desconcertantes versos do poema Quase
de Mário de Sá-Carneiro («Um pouco mais de sol – eu era brasa, / Um pouco mais
de azul – eu era além. / Para atingir, faltou-me um golpe d'asa... / Se ao
menos eu permanecesse aquém...»).
O
poema seguinte, que se inicia do mesmo modo e se apresenta como um dos mais longos
do livro, elucidar-nos-á um pouco melhor:
(...)
a coisa amada é coroa
pesando em minha cabeça
(…)
Eis
o lado mais destrutivo das paixões: o fardo que as mesmas comportam. O conflito
existe e é aqui recordado. Não será um fruto do acaso a sua escolha para tema
de abertura da obra em questão.
(…)
é a dor que o amor transporta
mais naquilo que não diz
que tudo aquilo que mostra
(…)
Em
tom firme e decidido, de um só fôlego se lê, como parece ter sido escrito, este
longo poema que desemboca na entrada de todos os apetites: «boca: / e a fome
que a devorava».
Note-se
já como, além da supressão dos títulos, os poemas iniciam-se sempre em letra
minúscula, de versos maioritariamente longos e de toada prosaica. A pontuação,
como antes referimos, nem sempre está presente. A sua distribuição é
arbitrária, e o ritmo corrido de leitura que sugere só adensa o teor tumultuoso
da escrita. Curiosamente, nenhum poema termina com o devido “ponto final”,
mesmo que lhe tenham sido atribuídas pausas gramaticais, alimentando a ideia de
todos os poemas, no fundo, se tratarem de um só. Não será certa, contudo, a
assumpção, visto que o teor do conjunto de poemas não parece corroborar os
fundamentos da mesma.
No
poema seguinte materializa-se a faceta mais áspera e abrupta que se conhece na
escrita do autor. Desde logo tal se depreende pelo verso com que se inicia:
«esfolo-te vivo, vadio, se me trazes outra vez versos desses, / assim tão às
ordens de um modelo civil». Compreende-se, contudo, a razão: um modo poético de
insubmissão, de revolta anunciada contra toda a forma de conformismo: «fortes
não da sua profundeza e verdade primeiras / mas daquilo que convém à digestão,
/ ao optimismo ou pessimismo do mundo, / regras da realidade». Um grito de
individualidade em nome da singularidade do ser nele se modula, bem se vê,
tornando-o igualmente um poema crítico e corrosivo, como tantos outros que
assinou, no qual se poderá antever uma espécie de “missão de todo o poeta”,
sabendo que esse será, na verdade, o «implacável», o «genuíno»: «esfolo-te
porque tens de trazer o nome do fim, / o tiro no escuro, / o relâmpago que
cega».
O
poema que a esse se segue, ao ritmo da leitura, remete para a futilidade da
matéria e seus elementos devido à efemeridade a ela inerente. «que interessa fazer
a barba se é tudo para cremar» – de modo assombrosamente lustroso se expõe o
caso. Notar-se-á, portanto, uma toada de desprendimento em relação a tais
elementos e de desprezo mediante tamanha inutilidade. Vejamos:
(…)
– ó
mundo, deixa-te entender um pouco
desde nascer a morrer que não entendo nada,
só a música que me embebeda,
mas quero ir mais depressa
(…)
Pelo
último verso do excerto seleccionado quase que invocamos a figura do “Orfeu
rebelde” por Miguel Torga legado às gerações à dele vindouras. A sensação de
inconformismo e de revolta diante do estabelecido voltam assim a emergir. Mas, isso é já tema para uma segunda ocasião; Poemas canhotos não é um título que se leia numa sentada.
***
Pedro Belo Clara é colunista do Letras in.verso e re.verso. Por decisão do editor do blog, nos textos aqui publicados preservamos a grafia original portuguesa. Nascido em Lisboa, Pedro é formado em Gestão Empresarial e pós-graduado em Comunicação de Marketing. Atualmente centrado em sua atividade de formador e de escritor, participou, com seus trabalhos literários, em exposições de pintura e em diversas coletâneas de poesia lusófona, tendo sido igualmente preletor de sessões literárias. Colaborador e membro de portais artísticos, assim como colunista de revistas e blogues literários, tanto portugueses como brasileiros, é autor dos livros A jornada da loucura (2010), Nova era (2011), Palavras de luz (2012) e O velho sábio das montanhas (2013) – sendo os dois primeiros de poesia. Outros trabalhos poderão ser igualmente encontrados no blogue pessoal do autor – Recortes do Real (artigos e crônicas diversas).
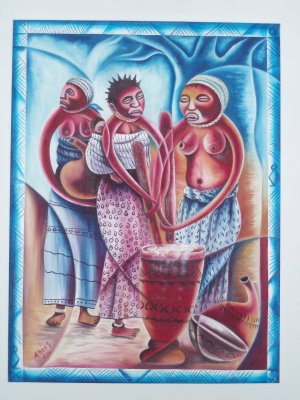





Comentários
Beijos e obrigado.