Limiar dos pássaros, de Eugénio de Andrade
Por Pedro Belo Clara
 |
| Eugénio de Andrade. Desenho de Dordio Gomes |
Retornamos
à obra de Eugénio não por motivos de lúgubres celebrações, visto assinalar-se
no presente mês a primeira década do desaparecimento físico do profícuo autor,
mas pela importância do teor da obra em causa no conjunto poético. E, uma vez que até ao momento a nossa viagem pelas páginas do poeta tem
sido razoavelmente extensa e profunda, salvaguardando a lógica que a iniciou
fará completo sentido abordarmos hoje este Limiar dos pássaros.
Não
criemos ilusões a respeito do livro e do seu conteúdo, pois não iremos ao
encontro do universo que o poeta habitualmente nos reserva. Estamos diante de
uma obra de nítida ruptura. Já o havíamos notado em Obscuro domínio, mas neste
trabalho, editado em 1976, Eugénio vai muito para além dos ditames explorados
pelo título anteriormente referido. O que julgaríamos conhecer sobre a sua
poesia cairá por terra.
Deveremos,
contudo, ter o devido cuidado no uso de tal palavra: ruptura. O próprio autor,
numa das diversas entrevistas que anexou ao seu Rosto precário, de 1979,
afirma: «(...) de livro para livro se não pode falar propriamente de rupturas
ou viragens: sou cioso de um lento processo de assimilação e depuração onde, de
obra em obra, para lá de todas as experiências, se oiça o ressoar da música que
um dia nos fascinou». Portanto, tratar-se-á de uma etapa de maturação, mesmo
que essa vá, por práticos efeitos, cortar a ligação com o que de mais belo até
então se reconhecia em Eugénio. A beleza não se expurga; assumirá apenas um
outro contorno. Bem peculiar, acrescente-se.
O
que levará um autor a alterar substancialmente o seu estilo de expressão? Antes
de sondarmos as hipóteses de resposta, reparemos na primeira palavra do título
deste livro: limiar. Desde já, o que concluímos? Algo de fronteiriço ser-nos-á
dado a conhecer, um princípio de abismo que engloba naturalmente o fim de algo
que o antecedia. Limiar.
O
aviso fora dado no último livro publicado antes do apresentado, Véspera da água.
Para os que se recordam da discussão neste espaço explanada, descobrimos então
o sentimento de uma qualquer iminência pairando pelas páginas do livro.
“Véspera” de quê? Princípio, qual? Prelúdio de transmutação poética, agora se
compreende.
O
próprio autor admite que nesses anos, após publicar o dito “Véspera”, entrou
num período de «extensa afasia», cuja saída só se efectivou através da
experiência renovadora que fora a criação do trabalho que agora apresentamos.
Ou seja, Eugénio sentiu a necessidade expressa de se reinventar, de renascer em
si mesmo, queimando assim, sem clemência, os paradisíacos cenários da linguagem
poética até aí usual, perfeitamente límpida e maturada. Quase que poderemos
evocar aqui John Milton e aplicar ao caso o nome da sua mais famosa obra:
“Paraíso perdido”.
Perde-se
o paraíso, dir-se-á, mas na verdade trata-se de um renegar, ou melhor, de um
consciente abandono dos modos antigos, dando lugar aos novos. Eugénio, até
então, era o poeta da luz, da melancolia, das aves, dos corpos frementes de desejo,
das paixões bebidas à sombra das árvores – «O amigo mais íntimo do sol», como
Luís Miguel Nava referiu num brilhante ensaio sobre o poeta. Não diremos que a
partir deste momento um sol pôr-se-á sobre a poesia de Eugénio, mergulhando a
mesma num imenso lago de assombro nocturno. Não. Mas algo de crucial nela se
opera.
Pedro
Eiras, no prefácio da mais recente edição da obra (Assírio & Alvim, Outubro
de 2014), diz o essencial em parcas palavras: «Livro áspero, de paraísos
perdidos». E não poderia ser a caracterização mais acertada. Primeiramente,
pela dita aspereza de um livro de carácter notoriamente fragmentado (como
veremos adiante), algo inédito em Eugénio, de poesia depurada, branda e gentil;
depois, pela inegável ruína que a passagem dos poemas fincará no olhar do
leitor.
Temos,
portanto, um livro áspero, fragmentado, prenhe de ruínas.
Paraíso
perdido. Porquê? Exercícios poéticos à parte, tais características acrescem de
um encontro cada vez mais cru e nítido de Eugénio com o avançar dos anos e das
vivências que os mesmos comportaram. Inevitavelmente, com a morte. Logo, a
substância do livro adensa-se através da experiência e do viver, já
considerável, do autor, mais do que pela mera experimentação poética ou
reinvenção de formas, estilos e conteúdos (Eugénio teria cinquenta e três anos
quando o livro foi publicado, provavelmente cinquenta quando terá rabiscado os
primeiros esboços). O cristal que outrora vidrava os seus poemas, dando-lhes
uma coloração ímpar aquando da incidência de uma luz pura, encontra-se
quebrado. E sobre estilhaços tais ergue-se Limiar dos pássaros.
Ainda esta poeira sobre o coração
queria que chovesse sobre os ulmeiros
Assim
se inicia a obra. Na primeira das três partes que a compõem, nomeada com a
mesma epígrafe do livro, deambulamos por poemas sem título e sem pontuação,
escritos num quase desafogo (contido, mas pungente), um desabafo no “limiar” da
confissão mais íntima que aconteceu entre os meses de maio e junho de 1973 (a
própria datação dos poemas, aquando da sua publicação, será um aspecto (também
ele) inédito). Contudo, lembremo-nos no cariz fragmentário do trabalho em
causa, evidente desde logo no término da sua parte ou andamento primeiros, o
que concederá um largo espaço à reflexão por parte dos leitores através do que
o último poema, de fim súbito, instigando a quebra, sugere. Isto é, pode algo
não ter sido dito, ou propositadamente ficado por dizer. Neste caso, a
confissão, a existir, nunca poderá ser total. Vejamos o poema:
Esse sangue como tu não tem nome
cresce ainda vacilante no escuro
cresce para a poeira
vê-se bem por fim que
Talvez
este silêncio diga mais que qualquer metáfora, sempre belas em Eugénio, e todo
o poema (pois a primeira parte do livro é mesmo isso, um poema de corpo
inteiro) cintile mais por aquilo que oculta do que por aquilo que expõe,
confessa ou relembra.
Recordação.
Em todo o caso, o timbre evocativo do trabalho não poderá ser olvidado.
Encontrará, mais tarde, o seu máximo expoente em Memória doutro rio, mas as
primeiras sementes começarão aqui a ser trabalhadas:
Coisas assim resíduos restos
partículas de música do silêncio destroços
(…)
Choveu hoje muito sobre a minha infância
as sílabas tropeçam no escuro
assim o trigo
cresce sobre o rosto de minha mãe
Como
vimos neste excerto, a figura materna continua a merecer uma forte presença na
poética de Eugénio, sendo adensada a escolha pelo retroceder cronológico que
amiúde opera nestas linhas iniciais. Algo que poderá interpretar-se como fuga
ao tempo presente, de ruína e podridão, e, claro, à implacável aproximação da
morte. Vestígios de tal indício um pouco por toda a parte sobressairão a um
atento olhar: «Este mar já foi terra de trigo»; «demasiado jovem para a morte»;
«eu era dessa areia a luz precária». Mas como ainda «é um corpo de amor este
que temos», vale a vida pelas derradeiras porções de néctar que dela ainda se
poderão sorver. Tal ideia assume-se como um sol, pequeno, sobre a vastidão
nocturna que ameaça tomar conta de cada palavra densa de sentido:
Esta noite iremos pela tarde
até às dunas
vai chover talvez a terra fique limpa
escreverei como as crianças brilham
A
necessidade é a de uma chuva que expurgue a ruína do presente, mas também a de
um verão. Necessidade urgente, diga-se. Logo no poema de abertura do segundo
andamento, "Verão sobre o corpo", fica bem patente o íntimo intuito:
Esta noite preciso de outro verão sobre a boca
crescendo nem que seja de rastos.
Observamos
já outro modo de reinvenção poética do autor: o poema organizado em prosa.
Talvez não seja prudente excluir a hipótese da tentativa de aproximação entre
ambos os géneros, pois foi esse o modo, o de trazer a forma prosaica para o texto
poético, que Eugénio encontrou para se libertar dos grilhões das antigas
formas, estilos e até vocábulos, sobre os quais, de tão maduros e depurados,
sentia a ameaça de permanecer preso aos seus óbvios limites. A prosa em Eugénio
não é inédita. Basta recordar a abertura de Os amantes sem dinheiro. A
exploração da via conhece aqui a sua desenvoltura, culminando a maturação da
mesma no livro a este seguinte, o já referido Memória doutro rio.
 |
| Eugénio de Andrade. Foto: Alfredo Cunha |
Urge,
assim, o verão. Não aquele que se consumiu, mas outro. O verão vindouro,
contudo, jamais será pleno como os de outrora – «O corpo queixa-se por
instantes, agosto amarga». Daí que o tom recaia sobre o passado e suas
memórias, nomeadamente as da infância do autor («Entre os amieiros escondíamos
a roupa e nus os olhos caíam sobre a tímida erecção (...)»), onde a figura
materna é, uma vez mais, presença incontornável. Nem sempre de modo presente,
pois o cariz evocativo e ruinoso do trabalho em causa remete tanto para a
recordação viva como para o tempo onde o passado se revela um mero punhado de
cinzas. Dois excertos exemplificativos:
Depois de me olhar como se tivesse sede dos
meus olhos começava a dançar (…)
(…) daqui desta janela avista-se uma brancura
calcinada, devem ser os seus ossos.
O
pai de Eugénio, do qual tão pouco se sabe, merece um algo alongado texto
escrito sobre o momento da sua morte. O poeta sempre havia, tanto quando se
poderá conhecer, recusado a tal figura linhas no seu espaço poético.
Embora
não se anuncie propriamente autobiográfico, certos elementos deste andamento
remeter-nos-ão ao tempo vivido em pleno na paisagem rural de uma aldeia da
beira baixa («(...) Lá para o fim ao entardecer havia certamente aquelas
mulheres muito juntas todas sentadas no largo rente ao muro (...)»). O carácter
fragmentário dilui-se um pouco, não obstante as flutuações de pontuação, a
opção pela não utilização de títulos e a linguagem destituída do cuidado
anteriormente verificado, isto é, presente noutros livros seus, a este
anteriores. Pode-se dizer que, a respeito disso, a herança de Obscuro domínio é
fielmente retomada.
Nesse tempo, quem seguisse o caminho dos
rochedos encontrar-me-ia. Chafurdava num charco de merda. De lágrimas, para ser
literal.
Imperecíveis.
A
obscenidade de certas passagens, para julgamento de alguns, causará um forte impacto nos conhecedores da poesia inicial de
Eugénio. Porém, justifica-se completamente a polémica escolha (se é que em sua
substância o adjectivo tem aqui fundamento) dada a índole deste trabalho:
agreste, feroz, amargo, ruinoso. Tais aspectos são assim, através da linguagem,
condensados num ponto que se dirá ideal, maturando em pleno o conjunto poético
que nos é apresentado. Datado, acrescente-se, do verão de 1974.
A
última parte da obra, "Rente à fala (1974 - 1975)", retoma a poesia de carácter
fragmentado, mas reduz o seu teor agressivo, digamos assim. Embora plenos de
recordações, ou melhor, de estilhaços de antigas vivências (o “paraíso” cada
vez mais perdido), descobrimos um homem, vivo, cantando pelo rasto de ruínas
tais. No fundo, essa figura tem sido transversal a toda a obra. Talvez o
carácter agora mais melancólico, quase apaziguado que está o ardor da revolta,
permita uma certa rendição e, com isso, o aproximar do leitor ao sujeito
poético. Os temas da morte, e a consequente passagem do tempo, marcam
fortemente presença.
Existe
um lamento cada vez mais audível. A sensação que o “paraíso” perdeu-se por fim
e que nenhum verão vindouro o poderá, por mais que tente ou queira, restituir,
pautará a abertura dos poemas. Os mesmos aparecem agora numerados – mais um
inédito na poesia de Eugénio que não verá continuidade. Há um esforço de
reinvenção estilística e temática, sublinhemos isso («Falar dizer doutra
maneira»), algo que só para esta obra, dado o tempo do seu lançamento e o
enquadramento na demais bibliografia do autor, fará superior sentido.
1. Perdera-me dessa música tão perto da fala
(…)
tão tarde já tão longe o lugar
(…)
Notemos
como a pontuação continuará omissa nalguns casos (noutros, será simplesmente
arbitrária), e inexistente a atribuição de epígrafes aos poemas apresentados.
O
tempo de outrora perde-se, portanto, e a recordação, por mais válida que possa
ser, não passa de uma pálida imagem do que antes tivera vida. Há espaço para a
tentativa de recuperação, ou melhor, resgate, de tão imerso que está o passado
nas névoas da memória, mas o esforço será em vão, invariavelmente. O início do
segundo poema dá-nos a sugestão:
2. Entre a memória e a ruína do olhar
em qualquer parte esquecido o sabor
(…)
Porém,
deixemos a imaginação cumprir a sua parte. Dos fragmentos do que se quebrou,
por que não reerguer uma nova memória? Empreender a laboriosa reconstrução do
vivido?
6. Inventar a cor primeiro das laranjas
depois o sol escorrendo dos lábios
só depois o trevo só depois a neve.
Embora
possa ser “doce” o dito exercício, a realidade impõe-se, reclamando o seu devido
lugar. Tão crua e genuína quando possível, a contenda revela-se inútil. Da
aceitação virá, certamente, a transcendência do processo, não isenta da
aquisição de um sapiente modo de contemplar a existência, como nos demonstra o
talvez mais belo de todos os poemas neste andamento expostos – o sétimo:
7. Um dia te direi como é de vidro
a casa onde o rasto de verão
no silêncio perde o nome a cal
o mar a liberdade de vaga em vaga
há um galo que canta sem razão.
Da
futilidade de tudo passamos a um vivo testemunho da impermanência da vida e
seus elementos. O poema seguinte elucida-nos condignamente a esse respeito:
8. Hão-de passar as cabras o outono
sobre as falésias noutras dunas
entre os juncos os olhos do pastor hão-de
passar
em profusão as aves quase de vidro
as próprias águas.
Mas
até tal percepção não se isenta de dor ou de receio diante daquilo que
comporta. Afinal, falando de passagem e morte há que abordar a evidência do
esquecimento e o consequente desejo de perdurar.
A
figura humana desde há muito se petrifica diante do abismo da morte,
especialmente por este significar o desaparecimento da sua identidade. Então,
todas as tentativas de erguer um memorial, de gravar no rosto do mundo a imagem
que lhe assistiu anunciam-se, aos olhos do poeta, deveras inúteis e até
patéticas. De um modo sobejamente cru de tão subtilmente irónico que se
apresenta, eis o poema décimo-quinto:
15. Sinais oh também elas querem deixar
nas intrincadas veredas do verão
também elas querem deixar sinais, as cabras –
exactamente como eu, sinais,
três ou quatro frases ao esterco semelhantes.
A
confissão surge, por fim, num gesto de naufrago em praia estrangeira: «há um
homem neste poema e envelhece» (10). Sem cair na armadilha das súmulas,
parece-nos o presente trabalho fiel ao que este verso nos sussurra: é um livro
escrito por um homem que sente já distante o passado, fazendo do tempo presente
palco de memórias.
Que
futuro poderá haver dada a proximidade do fim? A imagem com que se despede a
poesia de Limiar dos pássaros é-nos dada, de novo, de modo fragmentado (porque
incompleto, omisso, retido), mas jamais despida da beleza que a ela se deverá
juntar. Se canta o cisne pela derradeira vez (não será, contudo, o caso), que o
faça no auge de todo o seu talento, transcendendo-o até. Mesmo que o
remanescente seja uma sensação de homem torturado pela inevitabilidade: daquilo
que partiu sem retorno e do que virá sem que gesto algum o possa impedir.
As imprecações haviam-no despido
tem a cabeça inclinada sobre o rio
a sombra desatada
os lábios hábeis para o silêncio
onde o sangue onde a noite onde o frio...
Serão
as obras lançadas no decorrer da década de setenta, algumas das quais já antes
referidas, que marcarão o pleno amadurecimento de Eugénio enquanto poeta. Não
que antes já o não fosse, nem que depois vá o poeta entrar numa espiral
descendente. Nada disso. Apenas nos referimos a um ponto crucial de
transcendência, uma “maturação além do próprio amadurecimento”. Na opinião de
Federico Bertolazzi, autor de diversos ensaios sobre Eugénio, as ditas obras
«encontram-se no cume de um percurso artístico que procura a exactidão da
linguagem querendo-a concentrada e rarefeita, moldada por metáforas que,
partindo de uma base lexical clara e facilmente inteligível, ampliam o real em
virtude de uma estratificação semântica não habitual» (Prefácio a Véspera da
água – Assírio & Alvim, Fevereiro de 2014). Assim se resume, sem que
expressão alguma falte, a génese de toda a poesia de Eugénio, não quanto ao fim
a que se destina, se é que alguma vez existiu nela uma finalidade lógica, mas
no que respeita às linhas que, no seu entrelaçar, iniciam as mais belas
urdiduras poéticas da literatura lusófona.
Claro
que a obra que temos vindo a discutir assume um grito de revolta quando se
considera toda a bibliografia de Eugénio de Andrade. Nasce de ruínas sem
hipótese de serem reerguidas, pelo que dela se dirá ser uma flor entre
escombros. Melancólica, sim, agreste como convém e se entende, mas bela em toda
a sua complexidade e, ao mesmo tempo, dotada de uma aura de extraordinária
simplicidade.
É
um livro doído. Pungente, violento em diversos momentos, mas contemplativo –
num constante jogo de observação interior e exterior, sem que esta se expurgue
da projecção das impressões recolhidas junto da primeira. Entre desassossego e
descontentamento, brota a ímpar musicalidade com que Eugénio impregna as suas
palavras . Agora, de intenções algo diferentes das anteriores. A melodia é
feroz, mas tal característica não lhe retirará o sentido.
Limiar
dos pássaros atinge um limite, o máximo da existência. E de tal evidência a
obra eclode, como que nascendo de si mesma. Em diante, a consciência do caminho
que guiará o poeta, como homem, à morte. Negro, assombroso, tortuoso, o seu
princípio já se anuncia no horizonte. Há que trilhá-lo, independentemente de
intenções contrárias. Mas a seu tempo o mesmo se transcenderá. O que subsiste
além dele? Certamente o género de imortalidade que é supremo privilégio dos
mais inspirados poetas.
Dizer como um rosto se extingue sem cessar
que farei deste nome que me sobra?
Eu tinha duas mãos que te queriam
grandes olhos de pássaro fulminado
Como dizer que vai morrendo
sobre pedras sem nome
la prima voce che passò volando
distante já da nossa idade?
***
Pedro Belo Clara é colunista do Letras in.verso e re.verso. Por decisão do editor do blog, nos textos aqui publicados preservamos a grafia original portuguesa. Nascido em Lisboa, Pedro é formado em Gestão Empresarial e pós-graduado em Comunicação de Marketing. Atualmente centrado em sua atividade de formador e de escritor, participou, com seus trabalhos literários, em exposições de pintura e em diversas coletâneas de poesia lusófona, tendo sido igualmente preletor de sessões literárias. Colaborador e membro de portais artísticos, assim como colunista de revistas e blogues literários, tanto portugueses como brasileiros, é autor dos livros A jornada da loucura (2010), Nova era (2011), Palavras de luz (2012) e O velho sábio das montanhas (2013) – sendo os dois primeiros de poesia. Outros trabalhos poderão ser igualmente encontrados no blogue pessoal do autor – Recortes do Real (artigos e crônicas diversas).

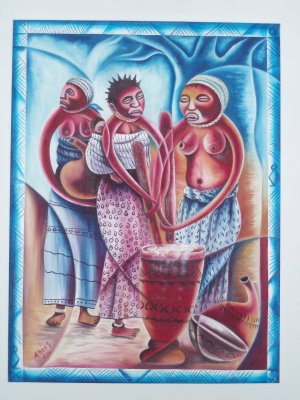





Comentários