Em breve tudo será mistério e cinza, de Alberto A. Reis
Por Pedro Fernandes
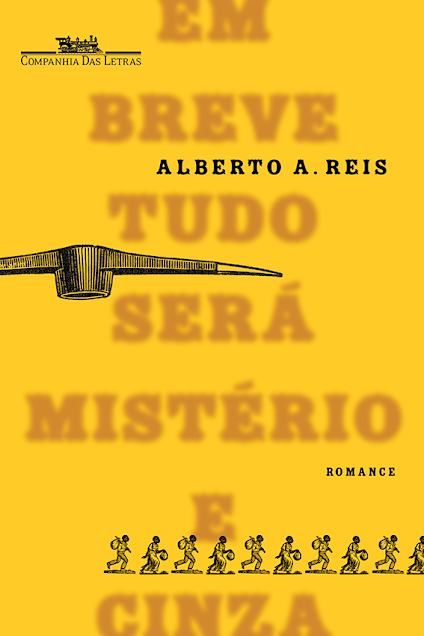
Desde o modernismo e sua sede pela novidade das vanguardas
que a literatura brasileira entrou por uma seara que nunca conseguirá escapar e
toda efervescência de então deixará depois um rastro de cinza responsável, já
se vê, por uma dormência na produção romanesca, preocupada esta com a
capacidade de romper a qualquer custo (e muitas vezes de qualquer maneira) com
a forma. Renderam poucos escritores que pelejaram pelo caminho iniciado com
José de Alencar e Machado de Assis, e alguns alcançaram o êxito devido, mas
outros terão caído no esquecimento, sufocado pela ideia de incapacidade em
fazer-se romancista.
Até que, contemporaneamente, desenvolveu-se o que costumo
chamar de uma estética da violência; integralmente urbanóide, o escritor nato,
pela nova fisionomia é aquele que consegue tratar exclusivamente da periferia,
de preferência ao sabor de muito sangue e putaria, pouco conflito psicológico,
que nunca fomos muito disso, e só. É evidente que minha queixa não é um
desmerecimento ao trabalho desses escritores, nem sou eu quem vai dizer que
estaríamos noutra seara, com uma literatura muito mais pujante, se tivéssemos
continuado a lapidar o projeto desenhado pelos primeiros nomes de nossas
letras. O trabalho desses escritores tem sua inestimável valia, mas suponho que
a lacuna deixada bem atrás pode servir de lugar para que algum escritor ou grupo
venha tomar as rédeas, voltar atrás e fundar um lugar ao menos mais
interessante que essa posição desenxabida que assumimos, marcadamente do
modernismo para cá, afinal, se tivermos algum censo de consciência crítica
daremos com sempre os mesmos nomes e os da contemporaneidade ensimesmados entre
negá-los ou segui-los.
Tudo serve para dizer que este lugar, evidentemente, não
está (nem nunca esteve) perdido. Quando digo que os que trilharam foram
sufocados, quero dizer que eles existem, só não têm recebido a atenção merecida.
Que hoje qualquer livro de trocadilhos baratos ou exercícios de linguagem como
se tivéssemos diante de um poeta em experimentação é bem mais quisto que
qualquer outra coisa. Ainda mais se nesse exercício barato houver espaço para
umas açucaradas doses do mal estar porque passa o indivíduo.
Pois bem, um desses nomes acaba de despontar e não pode cair
na ordem dos esquecidos. Chama-se Alberto A. Reis. É mineiro, professor da
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo – dista, portanto, do
lugar de formação da grande maioria dos nomes em voga. E depois de viver
mergulhado na seara da academia – Alberto é psicanalista – aparece com um
romance grandioso na forma e na extensão, fugindo também de todos os lugares
comuns, não apenas dos aspectos temáticos, estéticos e formais, como a triste
sina de que todo romancista brasileiro não tem conseguido passar das cento e
tantas páginas num romance. E não é que o texto de Reis seja uma historieta
simples com muitos ingredientes para enchimento narrativo. Não. O agora
romancista percorre pelo menos uma boa leva de anos da importante história
nacional; história que se diga anda um tanto esquecida dos currículos
escolares.
Quando iniciei a leitura de Em breve tudo será mistério e cinza dei com uma epígrafe recortada
de Manoel de Barros, “Não tem altura o silêncio das pedras”; estou também
imerso numa série de acontecimentos que anda movimentando consciências – muitas
ainda em formação – sobre determinadas situações no Brasil. E esses dois fatos
me fizeram dizer para uma nota redigida aleatoriamente em minha página no
Facebook intitulada “o passado volta amanhã – há uma história que precisa ser
contada”, que já era um exercício de apropriação para o andamento do texto que
tinha em mãos. A essas considerações voltarei mais adiante. Antes, passemos ao
romance.
Alberto A. Reis volta a 1825, três anos depois de o Brasil
ter se tornado independente de Portugal, quer dizer, ainda estávamos no calor
de não ser mais uma colônia e o de sermos agora um império, afinal ainda terá
levado longo tempo para que fosse dada a implantação da república. Os que
carecem de nomenclaturas dirão logo estarmos diante de um romance histórico,
mas quero me esquivar de reduções do tipo. Prefiro ficar com a ideia de que o
retorno do romancista ao passado é para acompanhar uma série de histórias
particulares, fictícias, que se enovelam no cabedal de nomes e situações do
tempo a que o romance recorre com a compreensão de que é impossível fugir dessa
carga de referentes da história oficial.
Uma das histórias, a principal, é a do casal de franceses,
François e Honorée Dumont, e o rapazote irmão de François, Victor Dumont, que
saem de seu país natal empurrados pelo pai de Honorée, empresário e dono de um império, uma grife de joias, conhecida dentro e fora da França, a Gerbe d’Or.
Tierri foi vitimado por um golpe de interesses fajutos e com a riqueza já
perdida e as vidas de todos da família ameaçadas, prefere, à surdina armar um
plano de salvação dos herdeiros: o fim da colonização brasileira dá ao velho a
ilusão de que Portugal permitiria a abertura comercial do novo império e o
território da economia de extração de ouro e diamantes poderia ser a
possibilidade de ressurreição da Gerbe d’Or.
Depois da longa travessia entre a Europa e o Brasil e salvo
de todas as circunstâncias que fizesse o sonho naufragar antes mesmo de tomar
forma, a chegada ao novo país colocará esses franceses diante de um lugar
totalmente alheio ao desenhado pelo imaginário; alertado desde a primeira
paragem no Recife de que a extração mineral estava já pelo fim e ainda era um
negócio totalmente amparado pela Coroa portuguesa, alerta que se confirma às
largas quando da chegada à capital do império; apenas por um lance de sorte, os
três conseguirão a licença para ida às Minas Gerais.
É quando se inicia outra longa travessia, agora por terra,
do Rio de Janeiro à entrada no coração da extração mineral, a Demarcação Diamantina, território dos mais vigiados do recente império. Já nessa travessia vão se
formando entre a esperança e o medo do desconhecido, uma série de impressões
sobre o Brasil. Se na capital do império já experimentara os miasmas da triste
herança portuguesa e que temos aperfeiçoado tão bem, a burocracia, no caminho
até o sertão mineiro os franceses dão com uma pluralidade de disparates sociais
e econômicos, compondo a imagem de uma ex-colônia construída pela ganância extrativista e pela
incapacidade de organização de algo que se possa chamar por arremedo de civilização. Mesmo os centros do ouro, como Ouro Preto, não passam de lugares perdidos no meio do nada, totalmente emporcalhado na miséria e com uma corja de gente de todo tipo. É, pois, tudo muito distante da imaginação desenhada vias da razão dos franceses.
Um Brasil cuja politicagem, a extensa valoração do
estrangeiro, os favores pessoais, as intrigas entre clãs de famílias, a luta
pelas coisas mais simples, como a liberdade dos negros, em plena formação
décadas mais tarde; um Brasil próximo e distante do que temos mais de quinhentos
depois; um Brasil complexo, entre o disparate do avanço e o da miséria, entre a
sofisticação e a rusticidade; enfim, um país em retalhos toma forma aos
olhos dos franceses. Logo se vê que todo esse apanhado de faces e o próprio contexto histórico a que se remete o romancista está
diretamente ligado com a proposta de se pensar nossa formação social como foram a lógica da criação literária dos nossos primeiros
romancistas. De certo modo, Reis está preocupado em preencher uma lacuna ainda
aberta conforme dizia entre o que fizeram nomes como José de Alencar e Machado de Assis e os romancistas que vieram depois –
revistar facetas e partir delas pensar nossas bases; o que éramos, no que nos tornamos. Isto é, são as características enformadoras de nossa identidade nacional.
Entra nesse caldeirão de ingredientes identitários uma série
de temas: a imigração e a influência estrangeira (não apenas portuguesa) na elaboração da cultura
nacional; o genocídio, os maus-tratos, a tortura e toda sorte de crimes
praticados de brancos contra a extensa presença do negro e entre os próprios
negros; o que foi a escravidão e seu fim; a trapaça, os primeiros sucessos do jeitinho,
o contrabando, os privilégios, a horda das hipocrisias; o papel vilipendiador
da igreja na prostituição e uso sexual das negras; a ganância pelo poder de compra
e a ostentação capitalista; tudo aí compõem um denso tecido que nos leva ao
menos a pensar com olhar novo sobre o modo de vida que hoje levamos e a série de questões que estão na ordem do dia, seja a discriminação contra os de cor, os de raça, os de sexo, seja a corrupção e as corruptelas, seja essa necessidade de que tudo se resolva de uma para outro sem curto esforço. Leva-nos a ver que numa nação ainda tão próxima do tempo a que o romance remente teimosamente temos evoluído. Não é, portanto, apenas uma luz sobre nossa história, é também um apelo a razão, de certo modo, até positivista.
E sobra espaço ainda para expor a urdidura de uma trama
policialesca e a crença no amor como redenção; sobre este último digo pensando no
casal de negros Marcos e Rosa que enfrentam as mais duras condições para honrar
com um juramento feito em seu nome. Se a isso não puder chamar de amor, ao menos de cumplicidade (e o que é o amor se não um jogo de cumplicidades) que
outro nome eu poderia dar? Sobra espaço ainda paras aventuras sexuais: a tímida libertação da mulher de sua condição de sexualmente reprimida e a folia de
negro escravo Orando, que usa todo seu dom de machão para pegar os outros
negros, numa naturalização da homossexualidade num território onde o tema poderia ser algo a não ser pensado.
Há também imperfeições. Suponho que o romancista poderia ter
tomado alguma atenção para os vários deslizes linguísticos que ferem o pacto
estabelecido pelo narrador com o tempo a que se refere. Compreendo que ele quis deixar a narrativa palatável ao gosto comum e isso reduz e
muito sua condição literária, uma vez que o grande trunfo artístico da
literatura está no tratamento dado à linguagem pelo escritor. Não é, portanto,
suficiente que aí esteja presente o que comumente chamamos por elementos
temáticos ou uma estrutura narrativa bem elaborada, mas que haja, da parte do
escritor, um cuidado com trato vocabular, condição que permita ao leitor não
se sentir diante de um ambiente sintético ou de situações marcadamente
teatralizadas, mas que o soterre totalmente pela atmosfera a que se refere. E digo isso, pensando aqui em romances como Memorial do convento, de José Saramago, para alinhar a discussão à ordem do mesmo modelo romanesco. No romance do escritor português também a história é elemento basilar dos acontecimentos ficcionalizados na narrativa. Esse manejo com a linguagem, por exemplo, está na forma, mas deixa suas marcas nas situações em que se mostram no texto
expressões de outra língua – do francês, do latim, do dialeto moçambicano, para
rememorar algumas situações – e ter a necessidade especificá-las em português
numa nota de rodapé; pode haver a justificativa que houver sobre esse procedimento,
mas não é do meu agrado. Tive a impressão de que Alberto A. Reis poderia ainda ter sido um tanto mais displicente com algumas situações, noutras palavras, ter se soltado mais sem se ater a uma lapidação das situações, ou das fronteiras espaciais e das personagens.
Fora estes e outros deslizes, como os deslizes com a
continuidade de algumas cenas e andamento das situações que, por outro lado, mereceriam um melhor acabamento, aquilo que mais incomodou na leitura. Entretanto, é preciso que se diga: este um romance que merece a atenção do leitor. Há situações aí que fizeram
me sentir diante de importantes nomes da nossa cena literária; todo o segundo
livro, por exemplo, – o romance é dividido em cinco e neste é quando eclodem os
primeiros ataques aos quilombos no Rio de Janeiro – me deram a impressão de
está diante de um Euclides da Cunha, com o diferencial de que, em Alberto A.
Reis, as descrições são um tanto aplainadas pela elevação da ação.
Por fim, quero dizer que Em
breve tudo será mistério e cinza é um título que evoca o passado todo ele
feito mistério, todo ele feito cinza, mas totalmente necessário de ser revisto.
Revisto não apenas por uma visitação simples, mas para uma revisão, reforço, do próprio
presente. E me parece que a epígrafe que o leitor encontrará logo à abertura do romance aponta para isso – "Não tem altura o silêncio das pedras" – um jogo, uma confusão entre a presença e a ausência ao atribuir altura ao silêncio quando este é sempre apresentado pelo lado oposto, o da ausência de som, como se fosse indicado estarmos diante de uma narrativa de ecos que teimam a todo momento irromperem, mas são hipocritamente até, abafados.
E o presente tem dado provas constantes de que o passado é uma voz contida à força e que se não for ouvida constitui-se numa ameaça à civilização. Esquecer o passado é também um ato de barbárie e toda
barbárie se constrói sobre as ruínas do esquecimento. O que sabem os jovens
dessa geração – e aqui me incluo – sobre a história recente do Brasil? O que lhe
foi dito nas escolas e nas universidades? O que leram a respeito? O que sabem
do passado para dizerem que tudo o que hoje temos não tem serventia alguma, que
não evoluímos? Ou ainda para compreender porque somos o que somos. Ou ainda
para tomar do radicalismo e dizer facilmente que avançar é retroceder? O que
sabem estes que não se servem de outra ferramenta para alimento da comunicação
senão da balbúrdia estapafúrdia e da calúnia esfarelada dos meios de
comunicação ou da leva de boatos a século XVIII espalhado ad infinitum nas redes sociais ou ainda dos pré-julgamentos feitos a
partir de comparações equivocadas? Saber do passado é também um necessário
gesto de cidadania. É um exercício de interrogação sobre as coisas e um
exercício de compreensão sobre o porquê que elas são o que são. É uma chave com
saídas viáveis e adequadas para todo e qualquer impasse. O passado volta a
amanhã. O romance de Alberto A. Reis é um justo gesto de revisitação da
história e simultaneamente um gesto de interrogação sobre o presente.






Comentários