Odes escolhidas de Ricardo Reis, Fernando Pessoa
Por Pedro Belo Clara
O livro que hoje trago ao conhecimento, lançado em
Portugal no passado mês de Junho, é uma bem composta antologia das principais
odes criadas por Ricardo Reis, um tão conhecido heterónimo, entre muitos outros,
do não menos famigerado Fernando Pessoa. Revelando-se um excelente meio de
contacto com o trabalho da faceta mais clássica deste luso autor, caberá
portanto ao leitor a hipótese de agarrar o ensejo e, se tal lhe interessar,
aprofundar o conhecimento sobre esta “personagem” (chamemos-lhe assim) deveras
única e, como tal, peculiar.
O vulto maior das letras portuguesas e lusófonas
organizou e enumerou, assim, um primeiro livro de odes deste seu heterónimo
pagão com simpatias latinas e helénicas. Perfazendo o total de vinte trabalhos,
fora seu intuito publicá-las na revista Athena,
da qual Pessoa era director literário. Tal intenção viria a ser cumprida no ano
de 1924, mas acabaria por se tornar numa iniciativa sem continuidade. E isto
porque, apesar de ainda ter publicado, de forma solta e pouco coordenada,
outras odes deste seu heterónimo ao longo dos anos vindouros, mais nenhum livro
viria a ser compilado. Apesar de esse ter sido um claro objectivo de Pessoa, o que
por fonte segura hoje se poderá afirmar.
Como se contam, em sua totalidade, mais de duas
centenas (!) de odes assinadas pela mão de Ricardo Reis (se é que tal coisa é,
efectivamente, correcta de se dizer), compreende-se de uma forma bem clara a
importância de cumprir, pelo menos em parte, o trabalho que Pessoa deixou
incompleto. Assim, oferecendo não só o livro que o autor organizou em vida como
também uma significativa selecção das mais emblemáticas odes que sobejaram,
esta antologia, em particular, concede, como antes o autor deste artigo referiu,
uma justa oportunidade de leitura e de estudo.
Posto isto, que mais não foi do que nota introdutória
tida como fundamental na apresentação desta recente iniciativa editorial, foquemos
a nossa atenção na pessoa do heterónimo. Afinal, é ele quem aqui importa
conhecer e divulgar, sendo o natural tema do assunto que optei por levar hoje
até si, estimado leitor.
Fernando Pessoa, como é sabido, não deixava nada ao
acaso. A sua natureza meticulosa, aliás, é sobejamente conhecida; e reflecte-se
de forma bem nítida em cada trabalho que compôs. Assim, como seria, para este
autor, possível criar um heterónimo sem lhe conceder todo um universo pessoal?
Comecemos precisamente por aí. Ou não fosse pela análise ao meio onde se insere
um homem que melhor se estudam e se compreendem as nuances do seu carácter.
Deste ponto de vista, é claro, falamos de um carácter expressamente literário.
Nada mais.
O heterónimo surge quando Pessoa se decide a escrever
alguns poemas de índole pagã. Não querendo anexá-los a si mesmo, opta por criar
a personagem que (supostamente) os escreveria. Eis, assim, Ricardo Reis.
Nascido em 1887, na cidade do Porto (um ano antes do seu próprio criador), foi educado
num colégio de jesuítas, onde dispôs de uma educação assente no estudo do latim
como língua e como cultura. Mais tarde, no tempo devido, forma-se em medicina
e, a partir de 1919, expatria-se para o Brasil devido às suas monárquicas
convicções (a República, recorde-se, implementar-se-ia em Portugal no ano de
1910). De facto, ao ler-se estas superficiais informações, é fácil pensar numa
figura real, isto é, de “carne e osso”. Na construção do personagem e da sua
personalidade, a precisão do detalhe é de tal ordem convicta que parece ser
deveras palpável. Aliás, o próprio Pessoa ainda comparará a forma física de
Reis à de um outro heterónimo seu, Alberto Caeiro, sendo o primeiro «um pouco
mais baixo, mais forte, mais seco» que este último. A genialidade tem destas
coisas…
Mas, pelos parcos dados concedidos, é desde logo
possível extrair a essência de Reis, compreendendo-a melhor. Não só pela sua
convicção política, já ultrapassada para a maioria das visões da época, como
também pela sua educação, é fácil de se aceitar o seu gosto pelo clássico.
Tanto o latino como o grego, entenda-se; embora este último seja mais por
simpatia própria do que por imposição educacional. A sua inclinação para um
ofício de estudo e consequente cura do físico humano, a medicina, é igualmente
um prenúncio da sua escolha religiosa: o paganismo. Em regra geral, pensar-se-ia
que um homem de ciência rejeita a figura de Deus; contudo, tal não é, neste
caso, propriamente correcto. Reis não nega a existência de Deus, embora
reinvoque os antigos deuses. Será, por certo, uma mera consequência do seu
nítido classicismo… Ou não. Na ode “Não a ti, Cristo, odeio ou te não quero”,
não deixa de ser curiosa a intenção de anexar essa figura fulcral do
cristianismo ao imenso panteão dos deuses pagãos («Nada mais, nem mais alto nem
mais puro / Porque para tudo havia deuses, menos tu»). O ressurgimento dos
temas, assim, assume-se num desejo pelo primordial, não pela expressa negação
do que viria a ser cultuado, em termos históricos, posteriormente.
A linha do seu pensamento, como antes se anunciou,
pauta-se pela influência grega: a simpatia pelas ideias de Epicuro e a
concordância com uma das mais antigas escolas do pensamento helénico. Sobre
este aspecto, Frederico Reis, um irmão pensado para o poeta em causa, foi quem
formulou a súmula mais concisa e completa de todas: «resume-se num epicurismo
triste toda a filosofia de Ricardo Reis». No entanto, acrescente-se ainda o
sóbrio e bem disciplinado estoicismo (a tal escola do pensamento grego) que,
aqui e ali, se permite anunciar. Eis, então, os dois pilares da construção
poética deste heterónimo pagão: o epicurismo, que defende uma moderada
experiência dos prazeres e da vida em si; e o estoicismo, focado em sua
irredutível máxima “sofre e cala”.
No entanto, não se poderá olvidar o sentido latino da
sua educação, como numa primeira abordagem aqui se registou. Disso resultará o facto
de Reis se revelar um autêntico discípulo do poeta Horácio, um perpetuador, em
parte, de toda uma imensa tradição poética. A influência confirma-se,
inclusive, no recurso aos mesmos interlocutores femininos a que o poeta latino,
em seus grandiosos trabalhos, recorria: Lídia, Cloe e Neera. Mas já que me
socorri da palavra discípulo, importa esclarecer que Reis será sempre o mais
visceral seguidor e, como tal, fiel discípulo, de Alberto Caeiro. Na realidade,
esta relação entre heterónimos que Pessoa fomenta é deveras interessante e
pejada de importância. Tanto que o assunto bem poderia ser alvo de um outro
artigo que não este. Importará, então, reter o seguinte: Caeiro só é mestre
porque encontra em Reis um aluno dedicado. A ode “Mestre, são plácidas” atesta
essa relação de confluência. Em termos práticos, a comprova-se no recurso ao
verso livre, tal como o mestre Caeiro o utilizava, embora permaneça sempre fiel
aos princípios clássicos que cultiva. Assim, Reis constrói uma espécie de
classicismo com adornos modernistas – eis a maioral invenção literária que este
heterónimo funda. Mesmo assim, discípulo e mestre acabarão por seguir rumos
distintos… Se este último, mais sábio e profundo, rege-se por um sensacionismo
de aceitação clara e convicta, o primeiro só o consegue graças a uma disciplina
algo forçada e, como tal, auto-imposta. É deste pressuposto que se adivinha, em
linhas mais nítidas, o cariz estóico da filosofia de Reis.
Tais aspectos são, assim, os fundamentos da obra
produzida pelo “poeta das odes”, alicerces que sustentam toda a construção
poética, formal e temática, da “pessoa” em causa. Será fácil, ao se demorar
pelos versos de cada ode neste livro reproduzida, comprovar isso mesmo. Mas os
alicerces apenas abrem o caminho a outros aspectos e características que neles
se apoiam e se justificam. Assim, como natural desenvoltura do que atrás foi
explanado, surge o principal pensamento que pauta o trabalho de Reis: o carpe diem – isto é, o máximo aproveitar
do instante fugidio, de cada dia da vida tida por efémera («Como se cada beijo
/ Fora de despedida, / (…) beijemo-nos, amando.» - ode V). Ao mesmo tempo,
denota-se uma declarada ataraxia, ou, por outras palavras, a convicção de que a
felicidade se alcança através da tranquilidade, num espírito de pleno anuir e
aceitação («Sábio é o que se contenta com o espectáculo do mundo» - na ode com
a mesma epígrafe). Mas este sereno sentir é de tal forma intenso que Reis acaba
por permitir que vida passe diante de si, sem nada empreender em favor da sua
experiência ou uso («(…) aprendamos / Que a vida passa» - em “Vem sentar-te
comigo, Lídia, à beira do rio”). Um perene e passivo observador, portanto. Não
deixa de existir, então, uma certa ambivalência que assume, até, proporções
deveras antagónicas, mas… qual é o Homem que não se mune de contradições? Ainda
assim, tal registo melancólico, quase que monocórdico, ao estilo da mais
tradicional ladainha repetida incessantemente entre murmúrios, não é capaz de
lhe conceder paz. Pois a obsessão pela morte («Olho os campos, Neera, / (…) e
sofro/ Já o frio da sombra / Em que não
terei olhos» - ode XIII), pelo implacável destino («Temo, Lídia, o destino.
Nada é certo» - ode XI) e pelo controlo, disciplinado, das emoções («Prazer,
mas devagar» - ode XIX) fazer-se-á sempre sentir. Embora a repressão destas
últimas leve, obviamente, ao seu proscrever em detrimento da razão. Não
obstante, admita-se: em momentos, talvez, de pura lucidez, Reis consegue
atingir uma notável profundidade, fruto de uma sabedoria cuidadosamente
cultivada («Senta-te ao sol. Abdica / E sê rei de ti próprio» - “Não tenhas
nada nas mãos”).
São, portanto, estas as linhas mais comuns e universais
à obra de Ricardo Reis, o heterónimo que mais se aproxima do seu criador,
segundo a confissão do próprio em “Páginas Íntimas”. Mas, antes de encerrar, acrescentem-se
as características formais da poesia deste pagão classicista: frases concisas e
sóbrias, embora algo densas e complexas pela inusual ordenação de que são alvo;
uma notável precisão verbal; um constante recurso à mitologia e suas figuras; e
o uso de hipérbatos (inversões), como no início desta enumeração se anteviu,
com o intuito de reforçar a lucidez e a disciplina de suas ideias e convicções.
«Sou somente o lugar / Onde se sente ou pensa” (“Vivem
em nós inúmeros”) – pensou Reis,
escreveu Pessoa. De facto, a passividade do primeiro quase que o tornava vazio
de tudo… Uma espécie de vacuidade que, por vezes, se esbulha de personalidade,
fundindo-se naquilo que o rodeia sem, contudo, atingir uma transcendência
veramente espiritual. Essa vertente, o espírito, em Reis parece ser ignorada.
Não obstante, apesar do seu notório abandono da vida, existirá sempre um
intenso desejo de saborear um vinho que não tardará a azedar… Ou não
espreitasse a morte em cada esquina do dias que céleres se consomem. Mas, como
resposta, encontra o poeta a sua eternidade na poesia que escreve, aquilo que
de mais precioso, por certo, nos legou. Que lá permaneça, então. É justo que um
criador, para todo o sempre, viva por entre as fímbrias da sua esplendorosa
criação.
Seguro assento na coluna firme
Dos
versos em que fico,
Nem temo o influxo inúmero futuro
Dos
tempos e do olvido (…).
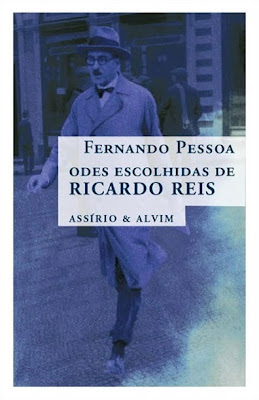






Comentários