Liquidação, de Imre Kertész
Por Darío Villanueva

O misterioso protagonista de Liquidação,
tradutor e escritor – como o próprio Imre Kertész – que se apresenta apenas com
B. nasceu em dezembro de 1944 em Birkenau, isto é, no campo de concentração de
Auschwitz, onde, como geralmente era feito com bebês, em vez de ser tatuado com
uma letra e um número no braço, foi tatuado na coxa.
Antes de B. que deu desde então
nome a uma história macabra: sua mãe, uma judia húngara, havia conseguido a
cumplicidade de blokova, a comandante polonesa da enfermaria
hospitalar, para ser inscrita como a prisioneira eslovaca que acabava de
morrer, o que incrementava as possibilidades de sobrevivência do filho que ia
dar luz frente aos muito escassos judeus marcados com a letra A.
Este episódio recorda o que narra
Jorge Semprún em Viverei com seu nome, ele morrerá com o meu, e
fala dessa evidência que o próprio Kertész relembrou em seu discurso de
recepção do Prêmio Nobel: umas vezes como elogio, outras como censura, todo
mundo diz que ele é um escritor monotemático, pois o Holocausto e suas
experiências dos campos de concentração (Kertész também esteve em Buchenwald)
marcam toda sua obra.
A publicação simultânea do último
romance do Nobel húngaro e do primeiro de seus diários contribui para ratificar
esta sua condição de escritor obcecado pelo que chama “o mito de Auschwitz”,
que entre outras coisas significa o reconhecimento de que é tão singular da
condição humana o Mal como o seu oposto, tudo isso num cenário em que Deus está
morto, ideia que Kertész, tradutor de Nietzsche, não partilha completamente.
Pode-se dizer que as páginas de Diário de bordo oferece o
melhor acompanhamento possível para a trilogia que deu forma ao autor, mas não
deixarão tampouco de ser úteis para a leitura cabal de Liquidação,
que apesar da sua brevidade é novamente um texto não fácil, tanto no que se
refere à sua temática sombria como sua própria composição. Sobre a memória do
Holocausto Kertész erige uma espécie de neoexistencialismo niilista que
contrasta com a não transcendência e o otimismo pueril da pós-modernidade,
qualificada aqui como “a época da catástrofe”, consistente nem mais nem menos
que no “ser sem Eu”.
O escritor suicida que protagonista Liquidação estabelece
uma terrível metáfora ao aludir, em sua carta de despedida, a “este miserável
campo de concentração terrena que chamam vida”; e em Diário de bordo,
o próprio autor, que cita nesta oportunidade Sartre, reconhece que ele procede
do mesmo universo de pensamento, pelo que talvez resulte numa condição
intempestiva: “Minhas raízes se aprofundam no terreno desse existencialismo
posterior à guerra: ainda podem crescer furtos novos em tal terreno?”
Segue vigente aqui, como também
estava em O fiasco (1988), o aprofundamento no eu e no porquê
da escrita, tema relacionável (como o discurso do Nobel apontou) com um
individualismo extremo do autor, que confessava ali haver escrito
exclusivamente para si, como uma libertação puramente subjetiva, em atitude de
discreta mas radical rebeldia contra a opressão política do sistema kadarista
sem pretender nem sequer encontrar um leitor. Quase como uma questão de
sobrevivência pessoal.
E é muito significativo encontrar
essa mesma atitude em Gao Xingjián (também refém de um regime comunista), que
tanto em seus textos teóricos como no romance O livro do homem só afirma
sua convicção de que “eu não sou nada, à parte de mim mesmo”, e proclama sua
censura total às limitações da literatura dominada não só pelas diretrizes
políticas mas pela tirania do mercado. Em Liquidação o
escritor suicida assegura ainda que “não quero levantar minha tenda na feira da
literatura”, ao mesmo tempo que seu editor e de certo modo um alter ego de
Amargo só acredita na escrita, a única capaz de dignificar o caos do mundo,
para concluir que “o homem vive como um verme mas escreve como os deuses”.
Ambas as obras, a de Kertész e a
da Xingjián vêm representar um bocado de ar fresco no rarefeito recinto da
literatura pós-moderna. Mas nada se encontrará nelas de leveza. Muito pelo
contrário, e sobretudo no caso do escritor húngaro, não se prometem atenuantes,
nem respirações. Voltamos à Literatura com maiúscula, a dos grandes nomes e das
grandes ideias, que por refletir sobre si mesma conduz a alguma das múltiplas
formas de duplicação interior, de myse en abîme, que configuram
todo meta-romance.
Em Liquidação compartilha
o protagonismo com B., seu editor Amargo, uma referência que remete a O
fiasco em que várias personagens tinham seu nome relacionado à ideia
de “pétreo”. Sua frustração o faz também, em parte, autor do texto a que
pertence na qualidade de destacada personagem, para o que Kertész joga
habilidosamente com a terceira pessoa narrativa – um narrador externo – com que
a obra inicia e conclui, e com a troca, sem solução de continuidade, com a
primeira. Do eu, Amargo narra, em 1999, o episódio nuclear de 1990, o suicídio
de B. e a busca sem retorno de um de seus manuscritos, o de um romance que
finalmente sabemos que foi queimado por sua companheira Judith seguindo os
desejos do autor. Médica, Judith foi também quem facilitou a morfina
necessária para consumar o “suicídio filosófico” do companheiro; a voz dela é
igualmente privilegiada com o uso do eu narrativo no momento de seu
posicionamento.
Amargo acredita, erroneamente,
como herdeiro de B., que naquele romance está a história das personagens
próximas dele. Mas na realidade não trata tanto dos acontecimentos como do sem
sentido sobre a vida. Judith, a única que leu o manuscrito, revela que tudo se
resume na luta entre uma mulher e um homem que não lhe perdoa o desejo de ter
um filho, tema que certamente está, como o do suicídio, nas páginas do Diário
de bordo. Trata-se, pois, de “um escrito de acusação contra a vida”,
mas as histórias das personagens de Liquidação aparecem refletidas
numa obra de teatro escrita por B., cujas sucessivas cenas respondem ponto a
ponto a suas reações e pensamentos depois de conhecer as causas de seu
suicídio.
Praticamente a metade do texto
deste romance possui uma estrutura menos espiralada, não alheia aos recursos da
intriga romanesca mais comum. Tudo se desenvolve a partira da ligação que
Amargo recebe de Sára com a notícia depois da visita à casa de B., sobre a
dissimulação da mulher e o resgate dos papéis antes da chegada da polícia. E
logo, a obsessão do editor por recuperar o hipotético romance que B. havia
escrito e Judith destruiu depois de haver lido. Jogo de espelhos: o que o
romance não inclui está na obra de teatro inserida no texto, que em algum
momento, a partir de um rascunho, se reproduz em forma de verso livre; Amargo
editor que quisera ser escritor como seus alunos; o estigma de Auschwitz
presente em B. é por sua vez a obsessão de Judith, a mulher judia que não
renunciou ter filhos e, por isso uma leve esperança.
Kertész destaca a literatura de
língua espanhola com uma atenção que é muitas vezes impossível de encontrar nos
escritores franceses ou anglo-saxões. Em seu diário merecem lugar tanto San
Juan de La Cruz como Ortega y Gasset; em Liquidação, à margem do
que Unamuno possa representar, será Calderón de La Barca o que proporciona as
chaves de compreensão de tão mosqueado ideário da perda de esperança encerrado
nesse romance e para transcender a obsessão de Auschwitz que Kertész alimenta e
teme como o fatal encapsulamento da sua obra: “o delito maior do homem é haver
nascido”, sentencia, por outro lado – como Liquidação recorda
– muito antes de Schopenhauer.
* Este texto é a tradução livre da resenha
publicada em El Cultural.



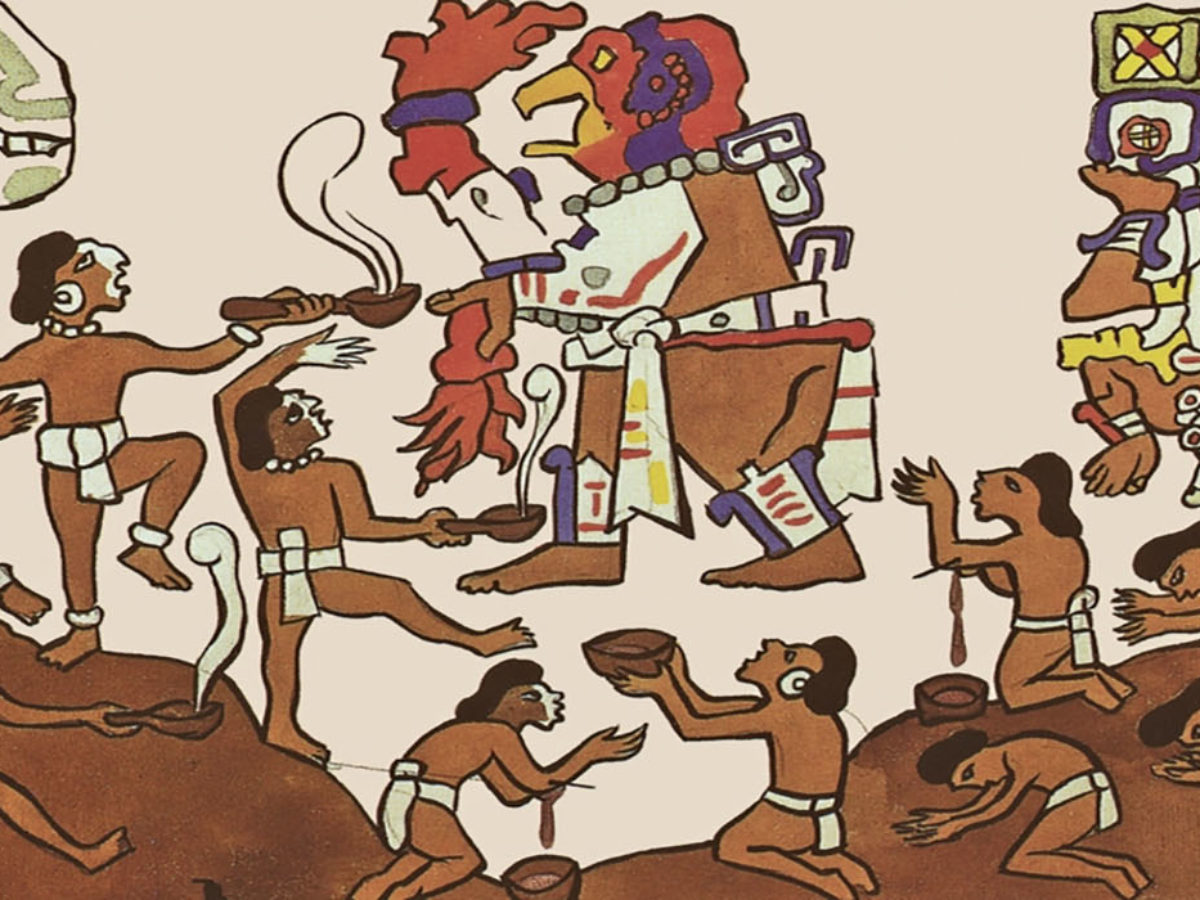


Comentários