Por que ler os clássicos: os livros de Italo Calvino (Parte 3)
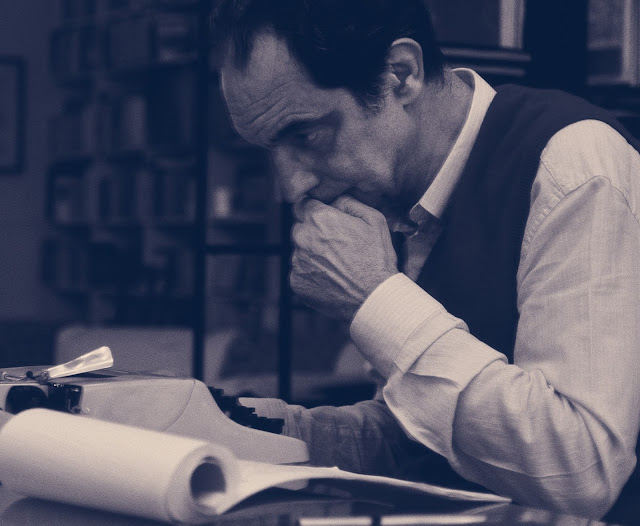
Desde maio
que iniciamos um passeio pelas leituras preferidas de Italo Calvino (ver o fim desta postagem).
Acompanha-nos nesse itinerário o já clássico conjunto de ensaios Por que ler os clássicos. Com esta
terceira entrada finalizamos esse roteiro. O livro, é preciso dizer, não é uma
lista de leitura tal como transformamos ao longo destas três postagens; são
críticas escritas sobre determinada obra ou autor e, justamente porque escreveu
sobre, julgamos ser estas as leituras mais marcantes na formação literária do
escritor, afinal, supomos que, se nem sempre falamos sobre aquilo que mais diz
de nós, em grande parte é o raciocínio contrário aquilo que prevalece.
No final
desse itinerário é válido fazer outras ressalvas, como o fato de termos anotado
os títulos que o Italo Calvino se refere diretamente. Como dizíamos, há alguns
ensaios em Por que ler o clássicos,
cuja referência é dada a um autor e
não sobre uma obra específica. É o caso de Giammaria Ortes, Mark Twain e
Raymond Queneau.
Sobre o
primeiro – “um padre seco irascível, que opunha a complexa couraça de sua
lógica aos avisos de terremoto que serpenteavam pela Europa e que repercutiam
nos fundamentos de sua Veneza. Pessimista como Hobbes, paradoxal como
Mandeville, argumentador peremptório e escritor preciso e amargo, quando lido
não deixa dúvidas quanto à sua colocação entre os mais desencantados defensores
da Razão com erre maiúsculo; e temos de fazer um certo esforço para aceitar os
outros lados que os biógrafos e os conhecedores de sua obra completa nos
fornecem sobre sua intransigência em matéria religiosa e sobre um substancial
conservadorismo” – Calvino cita várias obras, como Riflessioni di um filosofo americano, Calcolo sopra il valore dele opinioni, Calcolo sopra la verità dell’istoria e Rflessioni sul teatro per musica.
De Mark
Twain, referido várias vezes ao longo de outros ensaios, Calvino elege Huclberry Finn, e Vida no Mississipi, mas,
como sobre os outros dois nomes, seu interesse centra-se numa leitura mais
ampla, sobre a atividade criativa desses escritores. Sobre Twain, analisa:
“Prestidigitador da escritura, não segundo uma exigência intelectual mas
conforme sua vocação de entertainer de
um público que era tudo menos refinado (e não esqueçamos que sua produção escrita
se acopla com uma imensa atividade de conferencista e debatedor itinerante,
pronto a medir o efeito de seus achados nas reações imediatas dos ouvintes),
Mark Twain segue procedimentos que afinal não são muito diferentes daqueles do
autor de vanguarda que faz literatura com a literatura: basta colocar-lhe entre
as mãos qualquer texto escrito e ele se põe a brincar até que dali apareça um
conto. Mas deve ser um texto que não tenha nada a ver com a literatura: um
relatório para o ministério sobre um fornecimento de carne enlatada ao general
Sherman, as cartas de um senador do Nevada em resposta aos seus eleitores, as
polêmicas locais dos jornais do Tennessee, as rubricas de um jornal agrícola,
um manual alemão com instruções para evitar raios e até uma declaração para o
imposto de renda. Na base de tudo encontra-se sua opção pelo prosaico contra o
poético: mantendo-se fiel a esse código, ele consegue pela primeira vez dar voz
e forma à surda consistência da vida prática americana – sobretudo nas
obras-primas da saga fluvial Huckleberry
Finn e Life on the Mississipi – e
por outro lado é lavado – em muitos dos contos – a transformar essa espessura
cotidiana numa abstração linear, num jogo mecânico, num esquema geométrico”.
E, sobre
Queneau, cita Zazie no metro, Odile, História modelo, As flores
azuis e os ensaios Bâttons, chiffres
et lettres, Bords e Le Voyage em Grèce, entre outros, num
exercício de repintar a imagem do escritor francês: “Mas se cada um de nós
tenta juntar as coisas que sabe sobre Queneau, essa imagem [nítida] assume logo
contornos segmentados e complexos, engloba elementos difíceis de manter juntos,
e quantos mais forem os traços caracterizantes que consigamos trazer à luz, mas
sentimos que outros nos escapam, necessários para consolidar numa figura
unitária todos os planos do multifacetado poliedro. Esse escritor que parece
acolher-nos sempre com um convite para ficar à vontade, para encontrar uma
posição mais cômoda e relaxada, para sentir-nos em posição de igualdade com ele
como para jogar uma partida entre amigos, é na realidade uma personagem com um
background que não se termina nunca de explorar e cujas implicações e
pressupostos, explícitos ou implícitos, não se conseguem exaurir”.
Outro texto
que se refere prioritariamente a um escritor é o sobre Ernest Hemingway, que
poderíamos ler como uma desconstrução de toda a genialidade atribuída ao
escritor estadunidense. Aqui, Calvino prefere um distanciamento e a leitura das
obras que estão na base de formação da sua escritura: Malraux, Tolstói,
Stendhal...
Uma vez,
esclarecidas essas determinantes, andemos com os títulos fundamentais para
Calvino.
1. “O
pavilhão nas dunas”, de Robert Louis Stevenson: “o conto psicológico da relação
entre dois irmãos-inimigos, quem sabe o primeiro esboço da história dos
irmãos-inimigos em The master of Ballantrae,
e que aqui só se insinua em definir-se numa contraposição ideológica: Northmour
byroniano livre-pensador e Cassilis campeão das virtudes vitorianas”; “é uma
narrativa sentimental, e é a mais fraca, com o peso de duas personagens
convencionais a serem levadas adiante: a donzela modelo de todas as virtudes e
o pai bancarroteiro fraudulento sordidamente avaro”; “Acaba triunfando o
terceiro motivo, o do romanesco puro com o tema que desde o século XIX não sai
da moda, da conspiração incontrolável que estende os tentáculos por todos os
lados. Triunfa por vários motivos: porque a mão do Stevenson que representa com
poucos traços a presença ameaçadora dos carbonários – do dedo que arranha no
vidro molhado ao chapéu negro que esvoaça sobre as areias em movimento – é a
mesma que (mais ou menos no mesmo período) representava a chegada dos piratas à
estalagem Amiral Benbow da Ilha do
tesouro”.
2. O espelho do mar, de Joseph Conrad:
“coletânea de prosas sobre temas de marinhagem: a técnica dos desembarques e das
partidas, as âncoras, os velames, o peso da carga, e assim por diante”; “Quem
conseguiu, como Conrad nessas prosas, descrever os instrumentos de trabalho com
tanto apuro técnico, com amor tão apaixonado e com uma tal ausência de retórica
e esteticismo? A retorica desponta só no final, com a exaltação da supremacia
naval inglesa, a evocação de Nelson em Trafalgar, mas serve para sublinhar um fundo
prático desses escritos, que está sempre presente quando Conrad fala de mar e navios,
e o imaginamos absorto na contemplação de abismos metafísicos: ele sempre punha
o acento na saudade dos costumes navais na época da vela, exaltava sempre um
mito próprio de marinharia britânica que estava se desmontando”.
3. Doutor Jivago, de Boris Pasternak: “A
emoção que O doutor Jivago de Boris
Pasternak (Feltrinelli, Milão, 1956) suscita em nós, seus primeiros leitores, é
esta. Em primeiro lugar, uma emoção de ordem literária, portanto não política;
mas o termo literário ainda diz muito
pouco; é uma relação entre leitor e livro que sucede alguma coisa: lança-nos à
leitura com a ânsia de interrogação das leituras juvenis, de quando –
precisamente – líamos pela primeira vez os grandes russos, e não buscávamos
esse ou aquele tipo de ‘literatura’, mas um discurso direto e geral sobre a
vida, capaz de colocar o particular em relação direta com o universal, de
conter o futuro na representação do passado. Com a esperança de que nos diga
algo sobre o futuro corremos ao encontro deste romance redivivo, mas a sombra
do pai de Hamlet, sabemos disso, quer intervir nas questões do presente, embora
remetendo-as ao tempo em que estava vivo, aos antecedentes, ao passado. O nosso
encontro com O doutor Jivago, tão
perturbador e comido, também é marcado por insatisfação e desacordos. Um livro
com o qual se discute, finalmente!”
4. O conhecimento da dor, de Carlo Emilio
Gadda: “Juan Petit disse hoje uma coisa muito justa: que o sentimento-chave do
livro, a ambivalência ódio/amor pela mãe, pode ser entendido como ódio/amor
pelo próprio país e pelo próprio ambiente social. A analogia pode ir mais
longe. Gonzalo, o protagonista, que vive isolado na vida que domina a aldeia, é
o burguês que vê transtornado a paisagem de lugares e de valores que lhe era
cara. O motivo obsessivo do medo dos ladrões exprime o sentido de alarme do
conservador perante a incerteza dos tempos. Contra a ameaça dos ladrões toma
forma a organização de um corpo de vigilância noturna que deveria devolver a
segurança aos proprietários das vilas. Mas tal organização é tão desonesta, tão
equívoca, que acaba constituindo para Gonzalo um problema mais grave que o medo
dos ladrões. As referências simbólicas ao fascismo são contínuas, mas não são
jamais tão precisas a ponto de congelar a narrativa numa leitura puramente
alegórica e impedir outras possibilidades de interpretação”.
5. Aquela confusão louca da via Merulana,
de Carlo Emilio Gadda: “O que Carlo Emilio Gadda tinha em mente, pondo-se a
escrever, em 1946, Quer pasticciaccio de
via Merulana, era um romance policial mas também um romance filosófico. O
enredo policial era inspirado num crime que ocorrera recentemente em Roma. O
romance filosófico se baseava numa concepção enunciada desde as primeiras
páginas: não se pode explicar nada se nos limitarmos a buscar uma causa para
cada efeito, pois cada efeito é determinado por uma multiplicidade de causas,
sendo que cada uma delas tem várias outras por trás; portanto, todo fato (um
crime, por exemplo) é como um redemoinho em que convergem diversas correntes,
cada uma movida por impulsos heterogêneos, nenhuma das quais pode ser
negligenciada na busca da verdade”.
6. Ossos de sépia, de Eugenio Montale: “O
protagonista da poesia de Montale consegue, por uma combinação de fatores objetivos
(ar, vidro, árido) e subjetivos (receptividade a um milagre gnosiológico),
virar-se tão rapidamente a ponto de chegar, digamos, a lançar o olhar onde o
seu campo visual não ocupou ainda o espaço: e vê o nada, o vazio”.
7. A tempestade e outros poemas, de Eugenio
Montale: “La bufera é o livro mais
bonito que saiu da Segunda Guerra Mundial e, mesmo quando falta de outra coisa,
é daquilo que fala. Tudo já está ali implícito, inclusive nossas ansiedades
posteriores, até as de hoje: a catástrofe atômica (‘e um sombrio Lúcifer
descerá/ do Tâmisa, do Hudson, do Sena/ sacudindo asas de betume semidecepadas
pela fadiga, para dizer-nos: é a hora’) e o horror dos campos de concentração
passados e futuros”.
8. Os prazeres da porta, de Francis Ponge:
“é um bom exemplo da poesia de Francis Ponge: pegar um objeto dos mais humildes,
um gesto dos mais cotidianos, e tentar considerá-lo fora de todo hábito
perceptivo, descrevê-lo fora de qualquer mecanismo verbal gasto pelo uso. E eis
que uma coisa indiferente quase amorfa como uma porta revela uma riqueza inesperada;
de repente ficamos felizes por
encontrar-nos num mundo de razão estranha ao fato em si (como poderia ser uma
razão simbólica, ideológica ou estetizante), mas só porque restabelecemos uma
relação com as coisas enquanto coisas, com a diversidade de uma cosia para a outra,
e com a diversidade de qualquer coisa em relação a nós. Inesperadamente,
descobrimos que existir poderia ser uma experiência muito mais intensa,
interessante e verdadeira do que
aquele corre-corre distraído com o qual se calejou nosso cérebro. Por isso
Francis Ponge é, penso eu, um dos poucos grandes sábios de nosso tempo, um dos
poucos autores basilares do qual
partir para tentar não girar mais no vazio”.
9. Ficções e O Aleph, de Jorge Luis Borges: “Para escrever breve, a invenção
fundamental de Borges, que foi também a invenção de si mesmo como narrador, o
ovo de Colombo que lhe permitiu superar o bloqueio que o impedia, até cerca de
quarenta anos, de passar da prosa ensaística para a prosa narrativa, fingiu que
o livro que desejava escrever já estava escrito, escrito por um outro, por um
hipotético autor desconhecido, um autor de uma outra língua, de uma outra
cultura, e descreveu, resumiu, resenhou, esse livro hipotético”.
10. A lua e as fogueiras, de Cesare Pavese:
“é o romance de Pavese mais denso de signos emblemáticos, de motivos
autobiográficos, de enunciações sentenciosas. Até demais: como se do modo
pavesiano característico de narrar, reticente e elítico, se desprendesse de
repente aquela prodigalidade de comunicação e de representação que permite ao
conto transformar-se em romance. Mas a verdadeira ambição de Pavese não estava
nesse sucesso romanesco: tudo aquilo que ele nos diz converge numa única
direção, imagens e analogias gravitam sobre uma preocupação obsessiva: os sacrifícios
humanos”.
Ligações a esta post:
* Os excertos são da tradução de Nilson Moulin, Companhia das Letras.






Comentários